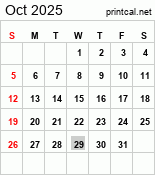Qual é coisa, qual é ela, que entra pela porta e sai pela janela?
Afonso Costa não é, como escreveu A.H. de Oliveira Marques, o mais
querido e o mais odiado dos Portugueses. É, com certeza, uma das
figuras mais ridículas e abjectas da História de Portugal, epítome do
que constituiu a I República, ou seja, um regime de vale-tudo, de
ameaças, de extorsões, de perseguições e ódios. Afonso Costa jamais foi
querido. Foi sempre temido, odiado, repudiado e no fim respeitado,
pois ser amado significava perder a força necessária à consolidação da
sua obra. A República Portuguesa, sobretudo nos seus defeitos (sim,
porque não podemos esconder-lhe algumas virtudes) foi da sua lavra.
Desde a tentativa de erradicação da Igreja Católica, às sovas que deu
ou mandou dar aos seus opositores, passando pelos pequenos furtos ou os
grandes roubos em que esteve envolvido, sem qualquer pejo, embaraço ou
vergonha. Como escreveu Fernando Pessoa: «Não podendo Afonso Costa
fazer mais nada, é homem para mandar assassinar. Tudo depende do seu
grau de indignação.». Ora, a indignação de Afonso Costa teve vários
graus, tantos ou mais do que aqueles que subiu na hierarquia da
Maçonaria que o acolhia com fraternidade. Aliás, a raiva deste paladino
da República nunca foi elitista, faça-se-lhe justiça: tanto se dirigia
a monárquicos como a republicanos, dependendo de quem se atrevia a
fazer-lhe frente.
Político experimentado dos últimos anos do Rotativismo e da experiência
do Franquismo, A. Costa sabia uma coisa: para governar um país como
Portugal, a Democracia só podia vir depois. Mais, o primeiro passo para
mandar nos portugueses, não é suspender o Parlamento, ou calar a
Imprensa, é alimentar o mais possível o caciquismo e os clientelismos.
Por isso, com uma mestria nem sequer igualada pelo seu sucessor das
Finanças a partir de 1926, rodeou-se da família, criando uma Dinastia
de Costas (a expressão aparece na sua correspondência), leal, forte,
incorruptível (na qual a sua mulher teve um papel fundamental, mesmo
apesar de às mulheres a República ter negado o direito ao voto),
distribuiu benesses aos mais próximos, amigos ou inimigos, mantendo-os
no bolso como qualquer bom gangster o faria.
Contudo, Costa tinha um lado medroso que faz dele esse político tão
extraordinário e vivo da nossa História. Rodeava-se da púrria
(adolescentes vadios e marginais a quem oferecia bombas e armas para
assustar a população) e ele próprio manejava a pólvora como ninguém; por
outro lado era incapaz de enfrentar um opositor num frente a frente. E
tinha medo, muito medo, do próprio terror que lançara. Quando, em
1917, Sidónio o mandou ir prender ao Porto andou escondido em
guarda-fatos e dali saiu apupado por uma fila de mulheres. Passou
vexames inacreditáveis: viu a sua casa ser esbulhada de alguns dos
objetos que ele tinha furtado nos Palácios Reais e um dia, em julho de
1915, seguindo num elétrico, atirou-se pela janela fora ao som e à
vista de um clarão que pensava vir de uma bomba. Não fora um atentado,
apenas um curto-circuito…estatelou-se no chão de onde foi levantado
pelos transeuntes em estado grave e, durante meses e anos a fio, Lisboa
transformou esta cena patética numa adivinha popular: Qual é coisa, qual é ela, que entra pela porta e sai pela janela?
Afonso Costa participou em negociatas e estranhos casos de
favorecimento. Desapareceram processos durante o seu ministério na
Justiça e não poucas vezes viu o Parlamento envolvê-lo na “roubalheira”
de que fala Raul Brandão e na qual políticos e militares participavam.
Em França um banqueiro virou-se para António Cabral, ex-ministro da
Monarquia perguntando-lhe: - “Conhece um tal de Afonso Costa, em
Portugal”. António Cabral disse que sim, que o conhecia bem… ao que o
capitalista respondeu – “Pois deve ser um dos homens mais ricos do seu
país, dada a quantia que possui na conta que por cá abriu…”
Nada o detinha. Para além de manipular a legislação a seu favor (algo que
facilmente podia fazer, dado que controlava, a partir da proeminência
do seu Partido Democrático, veja-se o Caso das Binubas, de que hoje
ninguém fala…) executava malabarismos financeiros, como o que envolveu a
sua mulher, para quem fez desviar, sob a desculpa da caridade, meio
milhão de francos, destinados à Comissão de Hospitalização da Cruzada
das Mulheres Portuguesas, de que a D. Alzira Costa era presidente.
Claro está que no meio de governos maioritários, ditatoriais e não
fiscalizados, no meio do clima de terror que Afonso Costa ajudara a
criar e mantinha para sua segurança e a da própria República, os roubos
não só eram frequentes, como absolutamente seguros (prova-o a
“habilidade” de Alves dos Reis, em 1925). Nenhuma investigação sendo
efetivamente aberta levaria a alguma condenação. Não deixa de ser
curioso que às despesas e aos roubos que os republicanos faziam questão
de apontar antes de 1910 tornaram-se frequentíssimos durante os
loucos anos da I República: armamento, fardas militares, promiscuidades
várias com empresas estrangeiras, etc, etc.
Através da figura de Afonso Costa é fácil entender as atuais
comemorações do Centenário e como, a meio deste ano de 2010, os seus
mandatários resolveram assumir a celebração dos primeiros anos da
República, evitando assim o Estado Novo e, na III República, fugir à
inevitável glorificação de uma certa “oposição” não socialista. É que a
Primeira República, intolerante e exclusiva como hoje alguns dos seus
admiradores é a melhor e talvez a única maneira de regressar às raízes e
à autenticidade da República Portuguesa tal qual ela foi gizada.

.jpg)

.jpg)


















.jpg/450px-Martin_Niem%C3%B6ller_(1952).jpg)