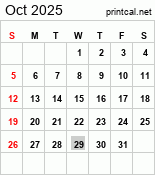D.
Manuel II de Portugal (nome completo:
Manuel
Maria Filipe Carlos Amélio Luís Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier
Francisco de Assis Eugénio de Bragança Orleães Sabóia e
Saxe-Coburgo-Gotha;
Lisboa,
15 de novembro de
1889 –
Londres,
2 de julho de
1932) foi o trigésimo-quinto e último
Rei de Portugal. D. Manuel II sucedeu ao seu pai, o rei
D. Carlos I, depois do
assassinato brutal deste e do seu irmão mais velho, o
Príncipe Real D. Luís Filipe, a
1 de fevereiro de
1908. Antes da sua ascensão ao trono, D. Manuel foi
Duque de Beja e
Infante de Portugal.
Biografia
Manuel II nasceu no
Palácio de Belém, em
Lisboa,
cerca de um mês depois da subida do seu pai ao trono de Portugal.
Baptizado alguns dias depois, no mesmo Paço de Belém, teve por padrinho o
avô materno, o
Conde de Paris, tendo participado na cerimónia o Imperador do
Brasil, D.
Pedro II, deposto do seu trono exactamente
no dia do seu nascimento. Manuel recebeu à nascença os títulos reais de Infante de Portugal e de Duque de Beja.
Teve o tratamento e a educação tradicionais dos filhos dos monarcas da
sua época, embora sem preocupações políticas, dado ser o filho segundo
do rei e, como tal, não esperar um dia vir a ser rei. Como tal, é de
notar que durante a infância e juventude posava para os fotógrafos com
uma atitude mais altiva que o irmão. Este divertia-se com os tiques
snobes do irmão mais novo, embora sempre tenham sido bons amigos.
Paradoxalmente, depois de subir inesperadamente ao trono, Manuel teve
uma atitude oposta, afastando-se regularmente dos costumes protocolares:
foi o primeiro rei de Portugal a não dar a mão a beijar aos
dignitários durante a cerimónia anual do
beija-mão real, a 1 de janeiro.
Aos seis anos já falava e escrevia em francês. Estudou línguas, história e música (tendo como professor
Alexandre Rey Colaço).
Desde cedo se mostrou a sua inclinação pelos livros e pelo estudo,
contrastando com o seu irmão, Luís Filipe, mais dado a actividades
físicas. Viajou em
1903 com a mãe, a rainha
Amélia de Orleães, e o irmão ao
Egipto, no iate real
Amélia, aprofundando assim os seus conhecimentos das civilizações antigas. Em
1907 iniciou os seus estudos de preparação para ingresso na
Escola Naval, preparando-se para seguir carreira na Marinha.
Casamento
Em
4 de setembro de
1913, Manuel casou-se com
Augusta Vitória, princesa de
Hohenzollern-Sigmaringen (1890-1966), sua prima (por ser neta da Infanta
Antónia de Portugal), e filha do príncipe
Guilherme de Hohenzollern-Sigmaringen.
Durante a missa na manhã do enlace, que teve lugar na capela do
castelo de Sigmaringen, Manuel assistiu de pé, ostentando a ordem da
Jarreteira e o Grande cordão das Três Ordens Portuguesas, sobre um
caixote cheio de terra portuguesa. A cerimónia foi presidida por
José Neto,
cardeal-patriarca de Lisboa,
à altura exilado em Sevilha, e que já havia baptizado D. Manuel, e
assistiram o príncipe de Gales, (futuro Eduardo VIII), bem como
representantes das casas reinantes ou reais da Espanha, Alemanha,
Itália, França, Roménia e de vários principados e reinos alemães
próximos. O casamento, uma união calma e serena, durou até à morte
súbita do rei, mas não teve descendência, fonte de grande
descontentamento para os monárquicos portugueses. Nunca se ouviram falar
em gravidezes de Augusta Vitória, pelo que se julga que os dois eram
geneticamente incompatíveis.
Reinado
O infante havia regressado a Lisboa (depois de ter estado alguns dias em
Vila Viçosa, com toda a família) para se preparar para os exames da escola naval, tendo ido esperar os pais e o irmão ao
Terreiro do Paço. Minutos depois deu-se o atentado que vitimou o rei e o príncipe real, sendo Manuel atingido no braço.
O infante tornou-se assim Rei de Portugal. A sua primeira decisão
consistiu em reunir o Conselho de Estado, a conselho do qual demitiu o
primeiro-ministro
João Franco,
cuja política de força foi considerada responsável pela tragédia.
Nomeou então um governo de aclamação partidária, presidido pelo
Almirante
Francisco Joaquim Ferreira do Amaral.
Esta atitude acalmou momentaneamente os ânimos mas, em retrospectiva,
acabou por enfraquecer a posição monárquica, pois foi vista como
fraqueza perante os republicanos.
Foi solenemente aclamado "Rei" na Assembleia de Cortes a
6 de maio de 1908, perante os deputados da Nação, jurando cumprir a
Carta Constitucional.
Manuel manteve-se sempre fiel a este juramento mesmo quando, já no
exílio, foi pressionado a apoiar outras formas de governo para uma
possível restauração. O rei auferiu, no início, uma simpatia
generalizada devido à sua tenra idade (18 anos) e à forma trágica e
sangrenta como alcançou o trono. Foi então fortemente protegido pela sua
mãe, Amélia, e procurou o apoio do experiente
José Luciano de Castro.
Julgando que a intervenção directa na governação pelo seu pai havia
sido a causa principal para o desfecho trágico do reinado deste, Manuel
II absteve-se de intervir directamente nos assuntos do governo,
seguindo a máxima de que o rei reina, mas não governa. No entanto,
sobre um aspecto se debruçou directamente o rei, a Questão Social.
D. Manuel II e a Questão Social
Por “Questão Social” compreende-se a preocupação, por parte de alguns
intelectuais e governantes, com a sorte do crescente proletariado
urbano criado ao longo do século XIX com as mudanças impostas na
sociedade pela Revolução Industrial. Em Portugal, dada a fraca
industrialização, essa questão não teve o peso que teve noutros países,
no entanto, o seu peso era exacerbado tanto pela crise económica do
país, como pela acção reivindicativa do Partido Republicano.
Existia um
partido socialista desde
1875,
mas nunca chegou a ter representação parlamentar. Isto devia-se não só
ao fraco peso do operariado no país e às divergências internas de
carácter doutrinário, mas sobretudo ao facto de o Partido Republicano
concentrar em si, pela sua natureza mais radical, todos os descontentes.
Dado que era teoria dos socialistas, ao contrário dos republicanos,
que a questão do regime era secundária face à melhoria de condições de
vida para os operários e por conseguinte, estarem dispostos a colaborar
com o regime, Manuel II vai tomar iniciativas de moto próprio.
Pretendia com isto o rei, sem infringir os seus deveres
constitucionais, incentivar o Partido Socialista de forma a que este
retirasse apoios ao Partido Republicano, nomeadamente o apoio do
proletariado urbano, dado que este último partido punha para depois da
mudança de regime quaisquer medidas sociais concretas.
Assim, logo em 1909 Manuel convida para Portugal, a expensas suas, o sociólogo francês
Léon Poinsard.
Este percorreu o país com o fito de elaborar um extenso relatório.
Neste documento defendia que, para se combater os clientelismos
derivados do
rotativismo, se devia reorganizar o trabalho e a administração locais, em consequência do qual a reforma política viria naturalmente.
Entusiasmado, o rei escreve, em Junho de 1909, ao então Presidente do Conselho de Ministros,
Venceslau de Lima, pondo-o ao corrente da recente reorganização do Partido Socialista, então unido sob a chefia de
Aquiles Monteverde,
e lembrando-o da importância de uma colaboração do regime com os
socialistas: “Desta maneira, vamos desviando o operariado do partido
republicano e, orientando-o, o que virá a ser uma força útil e
produtiva”.
Apesar de contactos anteriores do governo de
Campos Henriques com o socialista
Azedo Gneco,
Venceslau de Lima considerou a acção difícil, dadas as dificuldades
que surgiam então na realização do Congresso Nacional Operário,
boicotado por anarquistas e republicanos com um congresso rival. Por
seu lado, os socialistas entusiasmam-se com o apoio régio, iniciando-se
correspondência entre o rei e Aquiles Monteverde. Este dá conta ao
rei, em outubro de 1909, da falência do rival Congresso Sindicalista,
agradecendo-lhe o interesse pelos operários. Apesar do apoio Real, e
devido à instabilidade governativa, durante o ano de 1909 não se tomaram
medidas legais que mostrassem concretamente essa aproximação aos
socialistas, excepto nas portarias que de facto facilitaram e permitiram
o trabalho de Poinsard.
Foi só já no governo de
Teixeira de Sousa,
em julho de 1910, que o governo criou uma comissão com o fito de
estudar o estabelecimento de um Instituto de Trabalho Nacional. Desta
comissão faziam parte três socialistas, incluindo Azedo Gneco. No
entanto, Aquiles Monteverde queixava-se, que faltavam à comissão meios
para ser eficaz, nomeadamente, que a comissão tivesse um carácter
permanente e que aos delegados socialistas tivessem acesso ilimitado aos
transportes do estado para prosseguirem a sua tarefa de propaganda
pelo país. Informado, o rei passou palavra ao governo que, através do
ministro das obras públicas, concordou com o estabelecimento de um
Instituto de Trabalho Nacional. Estava-se em fins de Setembro de 1910, e
no início do mês seguinte ocorria o golpe de estado do Partido
Republicano, o que pôs fim à tentativa do monarca de revitalizar um
partido que não se opusesse ao regime: de certa forma o mesmo que o seu
pai tentara fazer, mas por meios menos drásticos e mais demorados. Mas
faltou-lhe tempo para o conseguir.
Entretanto a situação política degradou-se, tendo-se sucedido sete
governos em cerca de 24 meses. Os partidos monárquicos voltaram às
costumeiras questiúnculas e divisões, fragmentando-se, enquanto o
partido republicano continuava a ganhar terreno. As eleições
legislativas de
28 de agosto
de 1910 fizeram aumentar os deputados republicanos no parlamento para
14 deputados (9% de republicanos, contra 58 % de apoio ao governo, e
33% do bloco da oposição), o que parece ter favorecido bastante a causa
revolucionária, embora já tivesse sido tomada a decisão de tomar o
poder pela via revolucionária, no Congresso de Setúbal, 24 a 25 de
abril de 1909.
Na verdade, a
4 de outubro de
1910, começou uma revolução e no dia seguinte,
5 de outubro deu-se a
Proclamação da República em
Lisboa. O
Palácio das Necessidades, residência oficial do rei, foi bombardeado, pelo que o monarca terá sido aconselhado a dirigir-se ao
Palácio Nacional de Mafra, onde a sua mãe, a rainha, e a avó, a rainha-mãe
Maria Pia de Saboia viriam juntar-se a ele. No dia seguinte, consumada a vitória republicana, Manuel II decidiu-se a embarcar na
Ericeira no iate real "Amélia" com destino ao
Porto.
Os oficiais a bordo terão demovido Manuel dessa intenção, ou raptaram-no
simplesmente, levando-o para Gibraltar. A família real desembarcou em
Gibraltar, recebendo-os logo a notícia de que o Porto aderira à
República. O
golpe de Estado estava terminado. A família real seguiu dali para o
Reino Unido, onde foi recebido pelo rei
Jorge V.
Exílio
Manuel fixou residência em
Fulwell Park,
Twickenham, nos arredores de
Londres,
local para onde seguiram os seus bens particulares, e onde já sua mãe
havia nascido, também no exílio. Ali procurou recriar um ambiente
português, à medida que fracassavam as tentativas de restauração
monárquica (em
1911,
1912 e
1919).
Manteve-se sempre activo na comunidade, frequentando a igreja católica
de Saint James, e sendo o padrinho de baptismo de várias dezenas de
crianças. A sua passagem no lugar ainda se vê hoje em topónimos como
"Manuel Road", "Lisbon Avenue" e "Portugal Gardens".
Continuou a seguir de perto a política portuguesa, gozando de alguma
influência junto de alguns círculos políticos, nomeadamente das
organizações monárquicas. Se preocupava de que a anarquia da
Primeira República provocasse uma eventual intervenção espanhola e o seu perigo para a independência nacional.
Pelo menos um caso é conhecido em que a intervenção directa do rei teve
efeito. Depois do afastamento de Gomes da Costa pelo general Fragoso
Carmona, foi nomeado novo embaixador de Portugal em Londres,
substituindo o anteriormente designado. Dada a aparente instabilidade e
rápida sucessão de embaixadores designados o governo britânico
recusou-se a reconhecer as credenciais do novo enviado. Ora acontece que
na altura estava a ser negociada a liquidação da dívida de Portugal à
Inglaterra, pelo que o assunto se revestia de grande importância. Nesta
conjuntura, o ministro dos negócios estrangeiros da república pediu a
Manuel que exercesse a sua influência para desbloquear a situação. O
rei ficou encantado com esta oportunidade para ajudar o seu país e
levou a cabo vários contactos (incluindo provavelmente o seu amigo, o
rei Jorge V), o que teve de imediato os efeitos desejados.
Apesar de deposto e exilado, Manuel teve sempre um elevado grau de patriotismo, o que o levou, em
1915, a declarar no seu
testamento
a intenção de legar os seus bens pessoais ao Estado Português, para a
fundação de um Museu, manifestando também a sua vontade de ser
sepultado em Portugal.
Procurou sempre seguir uma política de aproximação à Grã-Bretanha. Este
imperativo era ditado não só por uma orientação geo-política já
seguida pelo seu pai, mas também como um recurso para fortalecer o
trono. Considerava-se que o casamento do rei com uma princesa inglesa
colocaria definitivamente a casa de Bragança sob a protecção da
Inglaterra. No entanto, a instabilidade do país, o recente regicídio e a
lentidão das investigações sobre este atrasaram as negociações até que
a morte do rei britânico,
Eduardo VII,
lhes pôs fim. O velho monarca, amigo pessoal de Carlos, havia sido o
grande protector da Casa de Bragança e, sem ele, o governo liberal
britânico não tinha especial interesse pela manutenção do regime
monárquico em Portugal.
Sendo anglófilo, e admirador do espírito britânico, Manuel defende a partir da entrada de Portugal na
guerra,
uma participação activa, instando os monárquicos a não lutarem contra a
república e a porem de lado as tentativas restauracionistas enquanto
durasse o conflito, e a unirem-se como portugueses na defesa da Pátria,
chegando mesmo, no exílio, a ter solicitado a sua incorporação no
exército republicano português.
Mas ao contrário do que esperava, a maioria dos monárquicos não
corresponde às suas expectativas, pois eram germanófilos, que esperavam
que a vitória do kaiser se saldasse pela restauração da monarquia. O
rei por seu lado acreditava que só o apoio à Grã-Bretanha garantia a
manutenção das colónias portuguesas, que se perderiam para a ambição
alemã em caso de vitória destes, quer Portugal fosse uma república ou
uma monarquia. Mas apenas aqueles mais próximos do rei se ofereceram
para lutar, embora a República não tenha aceite os serviços de nenhum
monárquico.
O próprio monarca se pôs à disposição dos aliados para servir como
melhor pudesse. Ficou de início um pouco desapontado quando o colocaram
como oficial da
Cruz Vermelha
britânica, mas o esforço que desenvolveu ao longo da guerra,
participando em conferências e recolha de fundos, visitando hospitais e
mesmo os feridos na frente, acabou por ser muito gratificante. As
visitas á frente foram dificultadas pelo governo francês, mas a amizade
com Jorge V era suficiente para desbloquear esses entraves.
O seu esforço nem sempre foi reconhecido. Anos mais tarde, em entrevista a
António Ferro,
lamentou-se, "A sala de operações do Hospital Português, em Paris,
durante a guerra, foi montada por mim. Sabe o que puseram na placa da
fundação? ‘De um português de Londres'."
Ao rei se deveu a criação do departamento ortopédico do hospital de
Sheperds Bush, que por sua insistência continuou a funcionar até 1925,
assistindo aos mutilados de guerra. Uma prova de reconhecimento dos
ingleses para Manuel e para com Portugal foi o facto de
Jorge V tê-lo convidado a ocupar um lugar a seu lado na tribuna de honra do desfile da vitória, em
1919.
Desde 1911 que forças de monárquicos exilados se centram na Galiza, com
o beneplácito do governo espanhol, para entrarem em Portugal e
restaurarem o regime monárquico. Eram lideradas pelo carismático
Henrique de Paiva Couceiro,
veterano das campanhas de África e o único oficial que se havia batido
com denodo pelo regime aquando do golpe de estado de 5 de outubro.
Acreditava
o Paladino (assim o alcunhava a imprensa republicana)
que bastava uma demonstração de força para que o povo rural se erguesse
em apoio da restauração. Os acontecimentos mostraram que estava
enganado, pois além de mal preparadas e mal financiadas, a reacção do
povo não correspondeu ao esperado, tendo a sua apatia e a defesa das
forças republicanas batido as incursões de volta para a Galiza.
Manuel apoiou como pôde estas incursões, embora os seus recursos
financeiros, nos primeiros anos de exílio, fossem bastante limitados.
Acresce o facto de que esta primeira incursão ter sido feita sob a
bandeira azul e branca, mas sem a coroa, e foi precedida de um manifesto
de Paiva Couceiro que identificava o movimento como neutro, e
reclamando um plebiscito para decidir a forma de regime. Ora como
monarca constitucional legalmente jurado, Manuel II não aceitava ser
sujeito a um referendo. Foi só após troca de correspondência e aceite
que a restauração seria baseada na sua pessoa e na carta constitucional
de 1826, que o rei passou a apoiar os exilados da Galiza.
A segunda incursão ocorreu em 1912 e apesar de melhor preparada, não
encontrou maior sucesso. Isto deveu-se ao facto de que o governo
espanhol, cedendo às pressões diplomáticas, agora que a república já
gozava de um reconhecimento mais alargado, ter forçado os conjurados a
escolherem, ou entrarem em Portugal, ou serem desarmados. Após o
falhanço e retirada o governo espanhol desarmou os combatentes
restantes, cuja presença na Galiza era, de resto, ilegal.
No entanto, é de notar que Manuel II nunca fez fé numa restauração
baseada na força, e sempre defendeu que os monárquicos se deveriam
organizar internamente para tentarem chegar ao poder legalmente, através
do jogo eleitoral. Esta orientação não era acatada de bom grado pela
maioria dos monárquicos, mais radicais nas suas acções, pelo que nos
anos seguintes continuavam as mal preparadas tentativas
restauracionistas (por exemplo, em 20 de outubro de 1914), que o monarca
achava apenas contribuíam para agravar a situação anárquica do país.
Esta preocupação agravou-se com o começo da Guerra Mundial. Temia que a
situação de do país, combinada com a aproximação da Espanha às
potências ocidentais, levasse a Inglaterra a substituir Portugal pelo
seu vizinho como seu aliado, e que o próprio país fosse o preço cobrado
por Afonso XIII pela sua entrada na guerra.
O Pacto de Dover
Depois do fracasso da primeira incursão monárquica, e perante o que
parecia desinteresse da parte de Manuel, já que este não punha fé em
movimentos baseados na força, ganhou vigor o ramo legitimista, que
apoiava os descendentes de
Miguel I,
e que haviam participado no movimento. Para contrariar isto o monarca
entrou em negociações directas com os representantes miguelistas.
Pretendia-se que Miguel reconhecesse Manuel como rei e em troca que este
reconhecesse a linhagem de Miguel como segunda na linha de sucessão,
restabelecendo os direitos e cidadania portuguesa aos príncipes
miguelistas. De facto parece que houve um encontro entre Manuel II e
Miguel II,
em Dover, em 30 de janeiro de 1912, onde se trocaram cartas
protocolares. Os resultados efetivos ainda hoje são discutidos.
Argumentaram os seus adversários que o conteúdo daquelas cartas não
correspondia ao que se tinha previamente acordado, tendo ficado o
encontro por acordos quanto ao modo de ação na luta contra a república,
enquanto que no que toca à sucessão nenhum acordo efetivo teria sido
levado a cabo. Manuel não teria abdicado dos seus direitos como rei.
Por outro lado é possível que esta
interpretação
tenha surgido apenas em consequência de parcialidade por parte de
alguns elementos constitucionalistas adversos ao acordo. A situação não
ficou de todo resolvida, pois ainda houve uma posterior tentativa de
entendimento – no
Pacto de Paris.
Depois do falhanço das incursões monárquicas continuam amiúde os
levantamentos ocasionais, sem mais que repercussão local, e que o
monarca condenava, exortando os seus correlegionários a organizarem-se e
a fazerem propaganda, de forma a restaurar o regime pelo voto, e não
pela força. Esta opção pareceu viável quando a ditadura do general
Pimenta de Castro,
em janeiro de 1915, quebrou momentaneamente o monopólio político do
Partido Democrático e, numa tentativa de captar as simpatias mais
conservadoras, retirou as restrições à liberdade de associação que desde
o 5 de outubro limitavam os monárquicos. Entre abril e maio de 1915
abriram-se 55 centros monárquicos (33 no Norte e 12 no Centro do país),
mas perante esta abertura cerrou fileiras todo o espectro republicano e
em 14 de maio de 1915 a revolução saiu à rua. 15000 civis armados e a
marinha em revolta manietaram o exército fiel ao governo e ao fim de
três dias de combates, 500 mortos e mais de 1000 feridos, o Partido
Democrático estava de volta ao poder e os monárquicos de volta à
ilegalidade.
A opção das urnas voltou a ter possibilidade com a subida ao poder de
Sidónio Pais. Apesar de claramente republicano, também ele procurou
apoio no sector mais conservador da sociedade, estabelecendo o sufrágio
universal. O assassinato do presidente-rei levou ao poder forças
republicanas mais moderadas, mas não sem oposição. O estabelecimento de
juntas militares na província, algumas com tendências monárquicas e em
oposição ao governo criaram expectativas de que uma restauração através
de um golpe militar. Por esta altura a guerra já tinha acabado, o que
com a situação anárquica do país dava força aos que argumentavam por um
golpe.
Manuel, no entanto, continuava a pedir calma e, não pondo de parte a
ideia de uma acção pela força num futuro próximo, insistia que se
esperasse pelo fim das negociações de paz em Paris. Temia que um aumento
da anarquia prejudicasse a posição negocial do país. Mas para Paiva
Couceiro e para os integralistas era chegado o momento, bastava apenas a
autorização real na pessoa do seu lugar-tenente. Este,
Aires de Ornelas,
recebeu o memorando que pedia autorização para um movimento de
carácter monárquico, e convencido de que não se tratava de uma acção
imediata, escreveu à margem “Go on. Palavras de El-Rei” e assinava.
A 19 de janeiro de 1919, com um milhar de soldados e algumas peças de
artilharia, Paiva Couceiro restaurava no Porto a Monarquia
Constitucional, na pessoa de Manuel II. Um governo provisório foi
estabelecido, aderindo o Minho, Trás-os-Montes (com excepção de
Chaves,
Mirandela e
Vila Real)
e parte do distrito de Aveiro. Mas, ao contrário do que esperava
Couceiro, o resto do país não se levantou. O poder republicano
continuava firme em Lisboa, onde Aires de Ornelas foi completamente
apanhado de surpresa, e mais não pôde do que refugiar-se, com algumas
centenas de monárquicos, no Regimento de Lanceiros 2, à Ajuda.
Aumentando o número de refugiados que temiam represálias republicanas, o
comandante do regimento, que era monárquico, fez retirar a guarnição e
os civis, marchando para Monsanto, que na época tinha pouca vegetação.
Aí juntaram-se a outras forças monárquicas, entrincheirando-se com
parte das forças de cavalaria 4, 7 e 9, além da Bateria de Belém e do
Regimento de Infantaria 30. Aires de Ornelas hesitou entre obedecer ao
rei e ficar à margem, correndo o risco de os integralistas passarem a
sua lealdade a Miguel, ou assumir a liderança deste movimento monárquico
conjunto. Num terreno pouco propício para a arma de cavalaria, e
cercados por forças republicanas, os monárquicos acabaram por se render
em 24 de janeiro.
Com o falhanço da restauração no Centro e Sul do país, a sorte acabou
por se virar contra Paiva Couceiro. A 13 de fevereiro, a parte da
Guarda Nacional Republicana que o havia apoiado desertou e reinstaurou a
república no Porto. Os monárquicos que não conseguiram fugir foram
presos e condenados a pesadas penas. O rei, no exílio, poucas
informações recebeu e acabou por saber do falhanço através dos jornais.
As forças republicanas responsáveis pela vitória na escalada de
Monsanto repuseram no poder a “Republica Velha”, o que não facilitava a vida aos monárquicos.
Nos meses seguintes, o monarca moveu a sua influência na corte
britânica de modo a que tivesse lugar uma amnistia para os seus
correlegionários. Esta teve finalmente lugar em aquando do 3º
aniversário da batalha de
La Lys.
Além do fracasso do movimento em si, com o qual não concordara nem
fora consultado, Manuel II ainda teve que se confrontar com as
acusações de desinteresse em regressar ao país e a deserção de parte
dos activistas monárquicos.
Os Integralistas
A queda da monarquia constitucional em Portugal teve como reacção a
criação de um movimento monárquico de renovação nacional que se
distanciou das formas parlamentares cujos defeitos se consideraram como
responsáveis pela queda do regime. Esse movimento, conhecido como
Integralismo Lusitano, começou por afirmar a sua lealdade a Manuel II, então já no exílio.
No entanto, os proponentes do movimento nunca deixaram de salientar que
a forma monárquica que pretendiam diferia da que fora derrubada em
1910. A monarquia tradicional que defendiam, das corporações e dos
municípios, renegava as formas de representação parlamentar assentes
exclusivamente em partidos ideológicos. Esta atitude chocava contra os
princípios do rei que, embora reconhecendo defeitos na constituição
vigente antes de 1910, não se achava no direito de ditar ou defender
quaisquer alterações, considerando-se preso por juramento à carta
constitucional. Quaisquer mudanças, defendia o monarca, teriam que ser
discutidas e implementadas pelas cortes gerais da nação uma vez
restabelecida a monarquia.
À medida que crescia a força das ideias integralistas entre as hostes
monárquicas, aumentava o tom das exigências daqueles sobre o monarca
exilado. Dada a recusa de Manuel em faltar ao seu juramento, aliada ao
fracasso da Monarquia do Norte, e acusando o monarca de falta de
interesse na restauração, a Junta do Integralismo Lusitano declarou-se
desobrigada de lealdade para com o antigo monarca em outubro de 1919. Em
julho de 1920, representantes do movimento reunir-se-iam com os
representantes do ramo legitimista de que resultaria a transferência de
lealdades para o terceiro filho de
Miguel II, o então ainda menor
Duarte Nuno.
Tendo em conta o afastamento dos integralistas, e mais ainda o facto de
depois de quase uma década de casamento Manuel e Augusta Victória
ainda não terem filhos, o monarca exilado tentou uma nova aproximação ao
ramo miguelista. O encontro teve lugar em
17 de abril de
1922, em Paris, sendo representante do rei, o seu lugar-tenente
Aires de Ornelas, e pelos miguelistas do
Conde de Almada, a pedido de
Aldegundes de Bragança, Duquesa de Guimarães e Condessa de Bardi, tutora de
Duarte Nuno.
Concordou-se que, a faltar sucessor directo a Manuel, se reconhecia que era aceite
o Sucessor indicado pelas Cortes Gerais da Nação Portuguesa. Ambos os lados colaborariam, cessando actividade conflituosas.
Os monárquicos constitucionalistas ficaram satisfeitos, mas entre as
hostes integralistas isso não aconteceu. Devia-se o desagrado ao facto
do acordo, como publicado, não fazer referência ao aspecto
tradicionalista da monarquia a ser restaurada, algo em que a junta do
Integralismo considerava fundamental. Embora nessa altura, em 4 de maio
de de 1922, tivesse sido retirado o seu apoio público ao acordo, este
ainda se manteve, se bem com utilidade limitada, dado o seu falhanço em
unir as forças monárquicas, até que em setembro de
1925
foi formalmente repudiado por Aldegundes, em carta a Manuel, alegando
não cumprimento pela outra parte, dado continuar a funcionar o jornal
constitucionalista, enquanto o órgão integralista já havia sido fechado,
e nenhum legitimista ou integralista ter sido convidado para o
conselho superior monárquico. Terminava assim a última tentativa de
reconciliação entre os dois ramos da casa de Bragança.
O Bibliófilo
Manuel sempre se havia interessado pelos livros, e nos seus anos de
exílio dedicou-se aos estudos e escreveu um tratado sobre literatura
medieval e
renascentista
em Portugal. Nos tempos a seguir à Grande Guerra, e com mais tempo
livre, embora sem descurar os contactos com as organizações monárquicas,
o rei passou a dedicar-se mais aos estudos, seguindo assim a tradição
que já vinha de seu pai.
Inicialmente planeou fazer uma biografia, assente em fontes primárias, sobre a vida de
Manuel I,
que achava ter sido mal tratado pelos historiadores recentes. Para
isso contratou os serviços do bibliófilo Maurice Ettinghausen em 1919,
que se encarregou de lhe achar os livros antigos de que necessitava.
Esta acção foi beneficiada pela dissolução de inúmeras bibliotecas
privadas em Portugal depois da implantação da república. Teria sido
Ettinghausen que lhe sugira que precedesse o seu estudo pela feitura de
uma lista de todos os livros antigos da sua biblioteca.
Cerca de 1926 o objectivo do real investigador já havia mudado e,
abandonando a ideia da biografia, concentrou-se na descrição dos livros
antigos da sua biblioteca. Mais do que uma simples lista, a obra foi
aproveitada pelo autor para descrever as glórias passadas de Portugal,
descrevendo cada obra não só bibliograficamente mas acompanhando-o com
um ensaio sobre cada autor e cada assunto do livro, inserindo-o no seu
contexto histórico. A sua interpretação era fundamentada com documentos e
rigor científico,
e o resultado final só pode ser criticado pelo marcado amor à sua
pátria, bem patente na leitura e que o leva a uma exaltação dos valores
ancestrais da Grei, ainda assim desculpáveis num exilado.
Sendo uma obra de tema especifico, o número de exemplares era de
tiragem limitada e obtido por subscrição. Estava ilustrado por
fac-similis das obras tratadas e escrito em português e em inglês. O
primeiro volume da obra “Livros Antigos Portuguezes 1489-1600, da Bibliotheca de Sua Magestade Fidelíssima Descriptos por S. M. El-Rey D. Manuel em Três volumes
foi publicado em 1929, tendo Manuel se deslocado ao palácio de Windsor
para entregar em mão o exemplar ao rei Jorge V, que havia sido o
primeiro subscritor da obra. O volume debruça-se sobre dois manuscritos,
cinco incunábulos e trinta e três livros impressos em Portugal até
1539.
A obra recebeu excelentes criticas dos especialistas e o rei dedicou-se
de imediato ao segundo volume, que abrangia o período de 1540 a 1569. O
trabalho foi estafante, mas, com excepção das sobrecapas, estava
terminado em 1932. O rei faleceria inesperadamente pouco depois, tendo o
terceiro volume sido publicado, sob a supervisão da sua bibliotecária,
Miss Margery Withers, já postumamente. Este volume já só é uma
listagem de obras, sem os ensaios que enriqueciam os anteriores, e que
deram ao rei a merecida reputação de historiador e mais erudito dos
reis portugueses. O seu busto está hoje no átrio de entrada da
Biblioteca Nacional em Lisboa.
Sucessão
Embora nenhum dos pactos entre os dois ramos da dinastia tenha levado,
como se viu, a um acordo definitivo para além de qualquer dúvida, é de
notar que ao longo de todo o exílio Manuel nunca se procurou entender
quer com o ramo brasileiro dos
Orléans e Bragança, quer com a linhagem do
Duque de Loulé
no que toca à sua própria sucessão. Apesar de todas as dificuldades
criadas quer pelas diferentes inclinações políticas e pela mudança de
lealdade dos integralistas, o rei nunca duvidou onde estava a
legitimidade.
Tendo isto em conta, além do próprio peso do movimento integralista, aquando do falecimento súbito do rei a
Causa Monárquica declarou-se como cortes gerais da Nação e aclamaram
Duarte Nuno de Bragança como rei de Portugal. Para este príncipe, seu primo, neto do rei
Miguel I,
passou a chefia da casa real portuguesa, ao abrigo das regras de
sucessão e no respeito da alegada vontade do falecido monarca, uma vez
que este tinha procurado aproximar os dois ramos desavindos da família,
através dos referidos
Pacto de Dover e
Pacto de Paris.
(...)
Morte
Balanço
Passou à história com os cognomes O Patriota, pela preocupação que os assuntos pátrios sempre lhe causaram; O Desventurado, em virtude da Revolução que lhe retirou a coroa; O Estudioso ou o Bibliófilo (devido ao seu amor pelos livros antigos e pela literatura portuguesa). Os monárquicos chamavam-lhe O Rei-Saudade, pela saudade que lhes deixou, após a abolição da monarquia.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

.jpg)