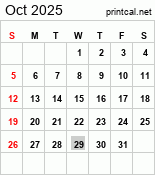D. João IV (
Vila Viçosa,
19 de março de
1604 -
6 de novembro de
1656) foi o vigésimo primeiro
Rei de Portugal, e o primeiro da
quarta dinastia, fundador da dinastia de Bragança.
Biografia
Por via paterna, era trineto do rei
Manuel I de Portugal, através da duquesa
Catarina, infanta de Portugal, sua avó paterna. Ficou para a história como
O Restaurador (por haver sido restaurada a independência nacional, pois antes Portugal estava sendo dominada por uma
Casa Real estrangeira, a
Casa de Habsburgo, tendo acontecido isto por
casamentos entre a realeza portuguesa e a do
Reino de Espanha) ou
O Afortunado
(por aparentemente, uma vez "caída a coroa na sua cabeça", não ter
querido reinar, e só se ter decidido após a intervenção da esposa).
Em «História de Portugal», volume V, Joaquim Veríssimo Serrão afirma - «de seu aio D.
Diogo de Melo recebeu aprimorada educação e o gosto pela montaria; e do doutor
Jerónimo Soares uma boa preparação nas letras clássicas e em teologia. Também se deu a estudos de música, ouvindo as lições do inglês
Robert Tornar, que o duque Teodósio contratara para mestre da capela de Vila Viçosa.»
A Casa de Bragança tinha grande prestígio no reino e o oitavo duque
tinha a vantagem de beneficiar da crescente degradação do governo
filipino e de um ambiente mais propício à revolta, haja vista os
excessos da tributação lançada por Olivares. O duque ajudou a construir
sua própria imagem de homem não comprometido e permitiu que o erguessem
como reserva única da Nação, sedenta de autonomia política, segundo
Veríssimo Serrão, na sua «História de Portugal», vol. V, página 13.
Quando, em agosto de
1633, visitou o
marquês de Ferreira em
Évora,
com o seu irmão Alexandre, «a cidade acolheu-o com as marcas próprias de
um soberano, na desejada antevisão da sua realeza». Para Veríssimo
Serrão, «pode aceitar-se que o projecto de uma revolta tenha depois
ocorrido no Paço de Vila Viçosa, no convívio do duque com dois
precursores da ideia: o secretário João Pinto Ribeiro e Pedro de
Mendonça Furtado, alcaide de Mourão.» A versão de que não queria tomar a
chefia do movimento por receio ou hesitação nasceu porque seu desejo,
«por não sentir a madureza do fruto», estava em aquietar o povo, por
entender que motins trariam a inevitável reação da coroa espanhola.
Teria também havido uma sondagem junto de seu irmão Duarte, que combatia
no exército imperial e chegou a Lisboa em
12 de agosto de
1638,
para «concertar os negócios da sua fazenda», em viagem de carácter
particular. Mas sabe-se que o duque não quis arriscar o futuro e se
limitou a promessas de auxílio no caso de o movimento triunfar. Diz
Veríssimo Serrão que «a aparente indecisão do duque encobria, desde a
primeira hora, uma vontade firme de triunfo, servindo plenamente o
desejo dos conjurados. Não era D. João o chefe de uma revolta, mas a
figura a quem cabia exercer a realeza, tendo de estar acima da
organização militar que lhe abria as portas do trono.»
Em
1640,
quando a burguesia e a aristocracia portuguesas, descontentes com o
domínio castelhano sobre Portugal que se propunha efectivar o valido
Olivares, terminando com a monarquia dual, quiseram restaurar a dinastia
portuguesa, foi ele o escolhido para encabeçar a causa. Dom João
aceitou a responsabilidade com relutância, diz a lenda que incentivado
sobretudo pela sua mulher
Luísa de Gusmão.
Este facto ter-se-á devido à prudência que se impunha na escolha da
conjuntura favorável, e do tempo preparatório necessário para o efeito,
visto Portugal nessa época estar quase desarmado, e Castela ser ainda ao
tempo a maior potência militar na Europa. Luísa de Gusmão, sendo irmã
do Duque de Medina Sidónia que sonhou revoltar-se com a Andaluzia, de que
chegou a sonhar ser rei, estaria talvez influenciada por ele.
A nomeação do duque para governador-geral das armas de Portugal veio a
ser o motor da revolta, propiciando-a. Nos fins de junho de 1639 esteve
em Almada, sendo visitado por muitos nobres, desesperados alguns com as
violências do governo filipino. Entre eles, Pedro de Mendonça Furtado,
acima referido,
Jorge de Melo (irmão do Monteiro-mor),
Antão de Almada e o velho
Miguel de Almeida
(da casa de Abrantes). O plano da conjura teria sido então apresentado
ao Duque: eles, e seus parentes e amigos, aclamavam-no em Lisboa,
apoderando-se do Paço, matando o detestado Miguel de Vasconcelos. Mas o
Duque recusou, pela consciência de que «não havia ainda ocasião» e
aconselhou prudência aos mais exaltados. No dia 1 de julho, o duque foi
a Lisboa saudar a princesa Margarida e teve calorosa recepção da parte
da nobreza, dos membros do clero e do povo.
Eram factores vivos de revolta a forçada presença de muitos nobres
portugueses em Madrid, e a novidade de um recrutamento de tropas
lusitanas para irem ajudar a reprimir a independência recentemente
declarada da Catalunha. Em agosto de 1640,
Filipe III de Portugal
pretendeu convocar Cortes nos seus outros reinos de Aragão e de
Valência, para aquietar o espírito dos catalães, ordenando que o
acompanhassem nessa jornada também fidalgos portugueses, sobretudo
aqueles que eram comendadores das ordens militares. «Todos compreenderam
que partindo para a Espanha iriam acelerar o processo de absorção
política que o conde-duque de Olivares pretendia», segundo Veríssimo
Serrão, e «na recusa de muitos em cumprir o mandado régio terá de ver-se
o detonador do movimento que veio a estalar no 1º de dezembro
seguinte.»
Houve então uma reunião em
12 de outubro em casa de Antão de Almada. Mendonça Furtado foi a Évora, sondar o
Francisco de Melo, marquês de Ferreira,
também ele um Bragança, e outros nobres, e depois a Vila Viçosa, onde
não escondeu ao duque a urgência dos conjurados em lançarem o movimento.
Para a aceitação de D. João teriam contribuído António Pais Viegas e a
duquesa Luísa que, segundo a tradição romântica tardia, «de maneira
varonil, quebrara os receios do marido ao afirmar que antes queria
morrer reinando do que acabar servindo.»
Preparação
Depois da conversa definitiva com o Duque de Bragança, os
conspiradores reuniram-se várias vezes em Lisboa para combinarem como e
quando haviam de fazer a revolução.
Essas reuniões tinham de ser feitas às escondidas para que não chegassem aos ouvidos da regente
Duquesa de Mântua e do secretário de Estado
Miguel de Vasconcelos. Se a notícia se espalhasse, seriam acusados de traição e condenados à morte.
Mas, mesmo que não conseguissem provas para os incriminar, qualquer
rumor acerca do que se preparava teria efeitos desastrosos porque os
soldados castelhanos de guarnição em Lisboa ficariam em estado de
alerta, eliminando-se o efeito surpresa. Todo o cuidado era pouco.
Aclamação de João IV como Rei de Portugal
A fonte coeva fundamental sobre o assunto é o volume I da
História de Portugal Restaurado da autoria do
Conde da Ericeira, republicada modernamente no Porto em edição anotada e prefaciada por António Álvaro Dória, em 1945.
É costume afirmar que
Miguel de Vasconcelos não soube da revolta, pelo que não tomou providências. Mas está provado, diz o historiador
Joaquim Veríssimo Serrão,
que lhe chegaram anteriormente rumores da conjura e que na véspera
recebeu uma carta, que por descuido não abriu, com o nome dos
conjurados.
O número de fidalgos intervenientes no
Primeiro de Dezembro
é geralmente dito de quarenta, talvez por arrastamento mental do ano da
revolução, afirmando no entanto alguns autores que foram em maior
número do que esse.
No dia 1º de dezembro, de manhã muito cedo, dirigiram-se os fidalgos e os seus criados, todos bem armados, ao
Paço da Ribeira,
aonde rompendo por ele dentro, entraram nos aposentos da princesa
regente, a vice-rainha Margarida Gonzaga, duquesa viúva de Mântua, prima
do rei Habsburgo, que facilmente dominaram, passando a procurar então a
Miguel de Vasconcelos, o português traidor secretário de Estado, aliado
do valido castelhano Olivares no seu recente projecto de anexação de
Portugal e outros reinos a Castela, no quadro de uma centralização à
francesa, inspirada no modelo de
Richelieu, que desejava aplicar à multifacetada monarquia hispânica filipina em bloco.
O principal comando da operação parece ter estado nas mãos de Miguel de Almeida, futuro
conde de Abrantes, de
Jorge de Melo, irmão do Monteiro-mor, de
Antão de Almada, que veio a ser o primeiro embaixador em Londres, e de
João Pinto Ribeiro,
agente do duque de Bragança em Lisboa. Após eles, outros fidalgos -
todos filhos segundos - como João da Costa, Gastão Coutinho, João
Saldanha da Gama, Manuel de Melo, os dois referidos irmãos António Teles
da Silva e
Fernão Teles de Meneses, António Mascarenhas e outros. Esta delegação da responsabilidade da
insurreição nos filhos segundos das casas fidalgas, a exemplo do que em
outras várias ocasiões sucedeu na História de Portugal até ao século
XIX, permitia manter a salvo de consequências maiores e mais graves as
mesmas, se a insurreição viesse a falhar, permanecendo oficialmente os
chefes de casa fiéis à ordem reinante, e ignorantes da conspiração da
juventude.
Naquele tempo as notícias viajavam por mensageiros e portanto
demoravam a chegar ao destino. O Duque de Bragança aguardava no Palácio
de Vila Viçosa o resultado da conspiração e, segundo os documentos da
época, só soube a boa-nova no dia 3. Muitos outros mensageiros
espalharam-se por todo o país a cavalo, levando consigo cartas para as
autoridades de cada terra se encarregarem de aclamar o novo rei. A
aclamação em todo o território português fez-se pacifica e alegremente,
desde Bragança ao Algarve, desde o Minho à Madeira, de Lisboa a Macau,
passando pelo Brasil, África e Índia: excepto na cidade de Ceuta, que
dependia excessivamente por então do suporte militar e alimentar por
parte da sua vizinha Castela, a quem continuou ligada. Por todo o lado
as populações explodiam de felicidade.
Logo se escolheram os governadores provisórios do Reino, durante os
poucos dias que decorreriam até à chegada de João à sua capital:
Rodrigo da Cunha, arcebispo de Lisboa,
Sebastião de Matos de Noronha, arcebispo de Braga, e o visconde de Vila Nova de Cerveira
Lourenço de Lima, os quais deram ordem para os tribunais continuarem no exercício de funções, pois estava garantido o sossego da cidade.
João IV chegou a Lisboa na noite de
6 de dezembro.
Nos dias seguintes houve festejos, procissões e iluminações públicas.
Enquanto se preparava a cerimónia da aclamação, o rei ocupava-se a
nomear embaixadores, que deveriam partir a fim de que os países
estrangeiros reconhecessem a alteração dinástica em Portugal, e
generais, que deviam encarregar-se da defesa das fronteiras e dos
portos. Ninguém tinha dúvidas que o tirano destronado
Filipe III, e sobretudo o seu valido castelhano
Olivares,
não iriam cruzar os braços. Decerto este trataria de preparar exércitos
para invadir Portugal. A notícia da aclamação da casa de Bragança
chegou a Madrid a
7 de dezembro, levada por um estafeta castelhano ao serviço do governador de
Badajoz.
Como era de prever, os castelhanos acusaram de traição não só ao Duque
de Bragança mas a todos os que tinham participado no movimento
palaciano. No entanto, as tropas castelhanas não marcharam logo para a
fronteira portuguesa porque estavam demasiado ocupadas e dispersas nos
teatros da
Guerra dos Trinta Anos,
e nomeadamente com a revolta da Catalunha suportada militarmente pela
França de Richelieu, o que deu tempo aos portugueses para se organizarem
na defesa.
No dia 15 de dezembro de 1640, foi alçado e aclamado solenemente em
Lisboa João IV. A cerimónia decorreu num grande teatro de madeira
armada, revestido de preciosos panos, contíguo à engalanada
varanda do
Paço da Ribeira,
e com ela comunicante. Varanda pela qual saiu o novo rei em complicado e
demorado cerimonial hierárquico para o Terreiro defronte aonde, diante
da Nobreza, do Clero e do Povo de Portugal, jurou manter, respeitar, e
fazer cumprir os tradicionais foros, liberdades e garantias dos
Portugueses, violados pelo seu antecessor estrangeiro.
Esteve o monarca rodeado dos mais altos oficiais-mores da corte
portuguesa, fidalgos que em geral manteve nos cargos e dignidades
áulicas que já exerciam anteriormente: o camareiro-mor João Rodrigues de
Sá, o Condestável
Francisco de Melo,
marquês de Ferreira, o alferes-mor
Fernão Teles de Meneses, 1º conde de Vilar Maior, o mordomo-mor
Manrique da Silva, futuro primeiro
marquês de Gouveia, o reposteiro-mor
Bernardim de Távora e o guarda-mor
Pedro de Mendonça Furtado.
A oração de praxe da aclamação, documento político-jurídico enunciando
os direitos esbulhados da casa de Bragança ao trono português nesse dia
restaurados, coube a um notável jurista que se destacaria depois também
como diplomata,
Francisco de Andrade Leitão.
E depois do alferes-mor entoar em uníssono com todos os presentes, em
alta voz, o triplo brado tradicional, Real, Real, por El-Rei D. João de
Portugal, o
Conde de Cantanhede,
presidente do Senado da Câmara de Lisboa, fez entrega ao rei das chaves
da cidade, tendo então início o solene cortejo que processionalmente se
dirigiu rumo à Sé, aonde foi celebrado um solene
Te Deum de graças.
É também de frisar que João IV, no acto da coroação, coroou rainha de
Portugal a Nossa Senhora da Conceição, colocando-lhe aos pés a coroa de
rainha, e que a partir desse momento ficou estabelecida como padroeira
de Portugal.
Esta acção repercutiu-se até hoje, na devoção dos portugueses a Nossa
Senhora, patente no número largo de orações e cânticos que evocam Nossa
Senhora e Portugal como pares.
O irmão do rei
Militar corajoso e competente, decidira participar na
Guerra dos Trinta Anos. Em
1638
visitou Portugal e, como o Duque de Bragança nessa altura estava ainda
renitente em aceitar a coroa e encabeçar uma rebelião, os conspiradores
chegaram a pensar escolher Duarte para esse efeito, tal como haviam
pensado, em último recurso, numa República - estas ofertas no entanto
podem não ter passado de oratória persuasiva por parte dos fidalgos mais
jovens, junto da casa de Bragança, mais prudente.
Seja como for, ainda não era hora, e caso este projecto relativo ao
infante D. Duarte tenha existido mesmo, sendo duvidoso que o aceitasse
sem consentimento do irmão mais velho, o dito não se concretizou.
Assim, aquele que alguns pensam que poderia ter tido hipótese de ter
vindo a ser rei de Portugal acabou preso na Alemanha, porque o imperador
Fernando III, também ele um Habsburgo, era aliado do destronado
Filipe III de Portugal,
seu primo. A pedido deste, em 1641, encarcerou o infante português. As
esforçadas diligências diplomáticas portuguesas, arrastadas por muitos
anos, não conseguiram libertá-lo, morrendo o infante solteiro e sem
geração, ingratamente no cativeiro, à ordem do próprio soberano que fora
servir.
(...)
Morte e juízo dos cronistas
Diz Veríssimo Serrão que «a historiografia liberal procurou
denegri-lo na acção de governo, mas as fontes permitem hoje assentar um
juízo histórico completamente diferente. (...) Deve pôr-se em relevo a
acção do monarca na defesa das fronteiras do Reino (....). Também
providenciou no envio de várias embaixadas às cortes europeias, para a
assinatura de tratados de paz ou de trégua, a obtenção de auxílio
militar e financeiro e a justificação legítima de
1640.»
Deve-se-lhe a criação do Conselho de Guerra (1640), da
Junta dos Três Estados (
1643), do
Conselho Ultramarino (1643) e da
Companhia da Junta de Comércio (
1649), além da reforma em
1642 do
Conselho da Fazenda. E a regulamentação dos negócios da Secretaria de Estado, para melhor coordenação das tarefas de Governo. Esta em
29 de novembro
de 1643 foi dividida em Secretaria de Estado, de um lado, que
coordenava toda a política interna e externa, e à «das Mercês e
Expediente», do outro, que tratava de «consultas, despachos, decretos e
ordens» não dependentes da outra Secretaria.
Promulgou abundante legislação para satisfazer as carências de
governo na Metrópole e no Ultramar. E, para além do monarca e do
restaurador, impõe-se considerar nele o artista e o letrado, o amador de
música que, no seu tempo, compondo o famoso hino de Natal
Adeste Fideles, esteve à altura dos maiores de Portugal.»