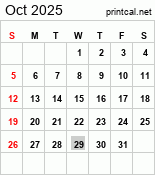Faz hoje 500 anos: um punhado de
portugueses, liderados por um capitão destemido e visionário, tomavam
pela força das armas uma das grandes cidades portuárias da Ásia. Era o
dia 10 de Agosto de 1511 e Afonso de Albuquerque e os seus homens
acabavam de conquistar Malaca. A cidade iria perdurar 130 anos nas mãos
dos portugueses, até ceder, após um cerco devastador, às armas
holandesas, em Janeiro de 1641. Por esta altura, o grande empório era já
uma pálida sombra do que fora durante séculos, e nunca mais readquiriu o
seu antigo brilho. Não sou grande adepto de comemorações de glórias
militares passadas, mas não é despropositado expor umas poucas de
reflexões acerca da efeméride que hoje se assinala e que, suspeito, não
fará manchetes de jornais nem abertura de noticiários.
A primeira diz respeito à cidade em si.
Malaca não era uma cidade portuária qualquer. Dominava uma ligação
fundamental (o estreito com o mesmo nome) entre o Golfo de Bengala e o
Índico Ocidental e o Extremo Oriente, o que lhe permitia captar notáveis
proveitos desta posição-charneira, quer do ponto de vista económico,
quer político e geoestratégico. A sua fama ecoava por toda a Ásia e
chegava, em imagens difusas e frequentemente exageradas, à Europa. Do
mesmo modo, o sultanato que Albuquerque derrotou não era um reino
qualquer, antes ocupava uma posição regional hegemónica e detinha um
prestígio ímpar: fora um importante foco de difusão do Islão e da língua
e cultura malaia no Sueste Asiático insular ao longo de todo o século
XV, estava sob a proteção formal da China Ming e possuía uma linhagem
real que remontava ao berço da civilização malaia (o império de
Srivijaya).
A segunda refere-se ao caráter
inesperado do golpe do governador português; foi uma surpresa para
todos. Nem os portugueses da Índia contavam com uma conquista numa
paragem tão remota (a principal base portuguesa era, nessa altura,
Cochim, na costa ocidental indiana), nem o próprio rei D. Manuel ou a
corte de Lisboa alguma vez esperavam que o governador, que fora a Malaca
resgatar os cativos portugueses que lá haviam ficado em 1509, esperavam
que, em vez de obter um acordo com o rei da terra e construir uma
fortaleza, como fora a prática seguida até então, Albuquerque tomasse a
cidade. Soaram, portanto, tanto na Índia como no reino, todo o tipo de
alarmes e denúncias contra o governador, que inimigos era coisa que não
lhe faltava, acusado de prepotência, de não respeitar as ordens régias
e, inclusivamente, de pretender declarar-se rei da terra e eximir-se à
obedência real.
Contudo, do ponto de vista dos malaios, a
surpresa não foi menor. A tradição sueste-asiática era estranha a um
ato de força semelhante. A guerra era ali mais ou menos endémica, mas
com regras próprias. Num mundo onde a riqueza era móvel, a prática comum
era a da escaramuça, da pilhagem, da depredação de recursos e obtenção
de prestígio. As cidades eram construídas em material perecível, logo,
um rei derrotado refugiava-se no interior, o inimigo destruía a sua
capital e retirava-se com a presa, permitindo aquele regressar,
reconstruir a sua capital e reatar a sua posição. Por outro lado, o
prestígio da realeza não era um mero objeto de marketing
político; era onde verdadeiramente repousava o poder e,
consequentemente, a riqueza. Portanto, o saque e a destruição de uma
capital era um revés temporário; a captura ou morte do rei (neste caso,
sultão), isso sim, podia ser uma séria derrota. Ora, quando a 10 de
Agosto de 1511, os portugueses saíram vitoriosos, o sultão fugiu e
aguardou que os intrusos saqueassem a cidade e se fossem embora, como
era hábito; e foi com indisfarçável apreensão que verificou que, não só
não se foram embora, como estavam a construir uma torre de pedra.
A terceira reflexão incide sobre as
ideias, mais ou menos embrulhadas em orgulho nacional, que envolvem os
feitos, as ações e as ideias de Albuquerque e que nos foram incutidas
durante muitas gerações. A lenda do terríbil começou pouco depois da sua morte (amplificada, por exemplo, com os Comentários do Grande Afonso de Albuquerque
escritos pelo filho) e prolongou-se por todo o século XVI, com menções
histórico-saudosistas de vários autores sobre os atos do homem que
lançara os alicerces do Estado da Índia, e cuja raça
se perdera entretanto. Como se vê, não é de hoje a nossa apetência para
glorificar os varões do passado e de aviltar os do presente. Depois, e
mais recentemente, toda uma mitologia em torno do homem e dos seus
feitos foi lentamente sedimentada, à medida que se generalizava a ideia
da decadência que se seguiu e que estendeu durante os séculos
seguintes. A figura de Albuquerque permanecia, intocável, com louros e
cantilena, no panteão do brio nacional: foram-lhe atribuídas qualidades
quase sobre-humanas, caráter moral impoluto, génio, visão, grandeza e
clarividência irrepetíveis; a conquista de Malaca como traço e prova do
seu projeto e do seu génio. Até a malfadada política de casamentos,
que tantas vezes lhe foi atribuída como mostra da generosidade
fraternal lusitana, aparece, ainda hoje, mencionada em relação a Malaca,
quando se sabe que nada disso existiu por aqui. Pelo contrário, ciente
da escassez de recursos, de homens e de navios, Albuquerque (e os
portugueses de um modo geral, durante os primeiros anos) não incentivou
casamentos nem o estabelecimento de uma comunidade portuguesa na cidade:
um casado era um soldado a menos na fortaleza e nas armadas. E
toda a sua política foi, pelo contrário, no sentido de tentar manter
tudo como estava, não mexer no status quo dos tempos do
sultanato, nem nos escravos do sultão (que foram sustentados, durante
algum tempo, pelo Erário Régio), nem na propriedade fundiária, nem, e
sobretudo, na política atrativa para as comunidades mercantis. Como diz o
Navegador da Guilda no Dune (perdão pelo aparte), “the spice must flow”.
A última reflexão é apenas uma
curiosidade: a impulsividade temerária de Albuquerque levou-o a tomar
Malaca, mas uma coisa é o ato de conquista, outra, bem mais complexa, é o
que fazer depois. Situada longe dos centros de poder político, naval e
militar português (concentrados na costa ocidental indiana), Malaca era
uma ilha, rica e cobiçada, num vasto mar potencialmente hostil. Há
indicações de que foi tentada, durante algum tempos, a devolução da
cidade ao antigo sultão (que entretanto se fixara nas redondezas,
havendo, portanto, duas Malacas: uma física e uma política) e que o
próprio D. Manuel não afastava tal hipótese, desde que os portugueses
mantivessem uma feitoria no porto que era, verdadeiramente, o que
interessava.
Malaca manteve-se nas mãos dos
portugueses durante 130 anos. A forma como tal foi conseguido, longe de
Goa e ainda mais de Lisboa, com poucas defesas e ainda menos soldados,
durante um século, e resistiu à pressão impiedosa do garrote holandês
durante décadas, é uma outra história (e esta já vai longa). Mas em
1634, ainda a bandeira portuguesa não fora derrubada, já Francisco Sá de
Meneses cantava a saudade da antiga proeza da conquista da cidade, numa
obra decalcada d’Os Lusíadas – substituindo o Gama por
Albuquerque, a jornada de Lisboa a Calecut pela viagem de Cochim a
Malaca e os deuses do Olimpo por Asmodeu, príncipe dos demónios – e onde
o mito da idade de ouro surge claro e definido: Malaca Conquistada pelo Grande Afonso de Albuquerque.
Foi há 500 anos. Hoje, depois da
ocupação holandesa, inglesa, novamente holandesa e novamente inglesa,
até à independência da Malásia, Malaca é uma cidade que vive a memória e
o prestígio do seu passado.
Uma comunidade de luso-descendentes exibe, com orgulho e devoção,
a sua ligação a Portugal. É, decerto, um dia de especial significado para eles; são eles o que resta de Portugal por ali.
(Aos eventuais interessados: a RTP-2
prepara, ao que sei, a exibição de uma série documental da autoria de
Pedro Palma entre 22 e 26 deste mês, e um documentário, mais recente, no
dia 28).