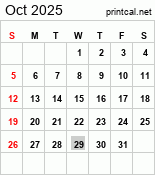RAUL DE CARVALHO (1920-1984) / serenidade és minha (1955)
MÁRIO VIEGAS (1948-1996) / humores, II (1980)
ALINHAMENTO MUSICAL: jan garbarek / soria maria (1980). pat metheny / waiting for an answer (1983). sufjan stevens / oh god, where are you now? (2003)
Serenidade És Minha (À Memória de Fernando Pessoa)
Vem, serenidade!
Vem cobrir a longa
fadiga dos homens,
este antigo desejo de nunca ser feliz
a não ser pela dupla humidade das bocas.
Vem, serenidade!
Faz com que os beijos cheguem à altura dos ombros
e com que os ombros subam à altura dos lábios,
faz com que os lábios cheguem à altura dos beijos.
Carrega para a cama dos desempregados
todas as coisas verdes, todas as coisas vis
fechadas no cofre das águas:
os corais, as anémonas, os monstros sublunares,
as algas, porque um fio de prata lhes enfeita os cabelos.
Vem, serenidade,
com o país veloz e virginal das ondas,
com o martírio leve dos amantes sem Deus,
com o cheiro sensual das pernas no cinema,
com o vinho e as uvas e o frémito das virgens,
com o macio ventre das mulheres violadas,
com os filhos que os pais amaldiçoam,
com as lanternas postas à beira dos abismos,
e os segredos e os ninhos e o feno
e as procissões sem padre, sem anjos e, contudo
com Deus molhando os olhos
e as esperanças dos pobres.
Vem, serenidade,
com a paz e a guerra
derrubar as selvagens
florestas do instinto.
Vem, e levanta
palácios na sombra.
Tem a paciência de quem deixa entre os lábios
um espaço absoluto.
Vem, e desponta,
oriunda dos mares,
orquídea fresca das noites vagabundas,
serena espécie de contentamento,
surpresa, plenitude.
Vem dos prédios sem almas e sem luzes,
dos números irreais de todas as semanas,
dos caixeiros sem cor e sem família,
das flores que rebentam nas mãos dos namorados
dos bancos que os jardins afogam no silêncio,
das jarras que os marujos trazem sempre da China,
dos aventais vermelhos com que as mulheres esperam
a chegada da força e da vertigem.
Vem, serenidade,
e põe no peito sujo dos ladrões
a cruz dos crimes sem cadeia,
põe na boca dos pobres o pão que eles precisam,
põe nos olhos dos cegos a luz que lhes pertence.
Vem nos bicos dos pés para junto dos berços,
para junto das campas dos jovens que morreram,
para junto das artérias que servem
de campo para o trigo, de mar para os navios.
Vem, serenidade!
E do salgado bojo das tuas naus felizes
despeja a confiança,
a grande confiança.
Grande como os teus braços,
grande serenidade!
E põe teus pés na terra,
e deixa que outras vozes
se comovam contigo
no Outono, no Inverno,
no Verão, na Primavera.
Vem, serenidade,
para que se não fale
nem da paz nem da guerra nem de Deus,
porque foi tudo junto
e guardado e levado
para a casa dos homens.
Vem, serenidade,
vem com a madrugada,
vem com os anjos de ouro que fugiram da Lua,
com as nuvens que proíbem o céu,
vem com o nevoeiro.
Vem com as meretrizes que chamam da janela,
o volume dos corpos saciados na cama,
as mil aparições do amor nas esquinas,
as dívidas que os pais nos pagam em segredo,
as costas que os marinheiros levantam
quando arrastam o mar pelas ruas.
Vem, serenidade,
e lembra-te de nós,
que te esperamos há séculos sempre no mesmo sítio,
um sítio aonde a morte tem todos os direitos.
Lembra-te da miséria dourada dos meus versos,
desta roupa de imagens que me cobre
o corpo silencioso,
das noites que passei perseguindo uma estrela,
do hálito, da fome, da doença, do crime,
com que dou vida e morte
a mim próprio e aos outros.
Vem, serenidade,
e acaba com o vício
de plantar roseiras no duro chão dos dias,
vicio de beber água
com o copo do vinho milagroso do sangue.
Vem, serenidade,
não apagues ainda
a lâmpada que forra
os cantos do meu quarto,
o papel com que embrulho meus rios de aventura
em que vai navegando o futuro.
Vem, serenidade!
E pousa, mais serena que as mãos de minha Mãe,
mais húmida que a pele marítima do cais,
mais branca que o soluço, o silêncio, a origem,
mais livre que uma ave em seu vôo,
mais branda que a grávida brandura do papel em que escrevo,
mais humana e alegre que o sorriso das noivas,
do que a voz dos amigos, do que o sol nas searas.
Vem, serenidade,
para perto de mim e para nunca.
....................................... ................
De manhã, quando as carroças de hortaliça
chiam por dentro da lisa e sonolenta
tarefa terminada,
quando um ramo de flores matinais
é uma ofensa ao nosso limitado horizonte,
quando os astros entregam ao carteiro surpreendido
mais um postal da esperança enigmática,
quando os tacões furados pelos relógios podres,
pelas tardes por trás das grades e dos muros,
pelas convencionais visitas aos enfermos,
formam, em densos ângulos de humano desespero,
uma nuvem que aumenta a vã periferia
que rodeia a cidade,
é então que eu te peço como quem pede amor:
Vem, serenidade!
Com a medalha, os gestos e os teus olhos azuis,
vem, serenidade!
Com as horas maiúsculas do cio,
com os músculos inchados da preguiça,
vem, serenidade!
Vem, com o perturbante mistério dos cabelos,
o riso que não é da boca nem dos dentes
mas que se espalha, inteiro,
num corpo alucinado de bandeira.
Vem, serenidade,
antes que os passos da noite vigilante
arranquem as primeiras unhas da madrugada,
antes que as ruas cheias de corações de gás
se percam no fantástico cenário da cidade,
antes que, nos pés dormentes dos pedintes,
a cólera lhes acenda brasas nos cinco dedos,
a revolta semeie florestas de gritos
e a raiva vá partir as amarras diárias.
Vem, serenidade,
leva-me num vagão de mercadorias,
num convés de algodão e borracha e madeira,
na hélice emigrante, na tábua azul dos peixes,
na carnívora concha do sono.
Leva-me para longe
deste bíblico espaço,
desta confusão abúlica dos mitos,
deste enorme pulmão de silêncio e vergonha.
Longe das sentinelas de mármore
que exigem passaporte a quem passa.
A bordo, no porão,
conversando com velhos tripulantes descalços,
crianças criminosas fugidas à policia,
moços contrabandistas, negociantes mouros,
emigrados políticos que vão
em busca da perdida liberdade,
Vem, serenidade,
e leva-me contigo.
Com ciganos comendo amoras e limões,
e música de harmônio, e ciúme, e vinganças,
e subindo nos ares o livre e musical
facho rubro que une os seios da terra ao Sol.
Vem, serenidade!
Os comboios nos esperam.
Há famílias inteiras com o jantar na mesa,
aguardando que batam, que empurrem, que irrompam
pela porta levíssima,
e que a porta se abra e por ela se entornem
os frutos e a justiça.
Serenidade, eu rezo:
Acorda minha Mãe quando ela dorme,
quando ela tem no rosto a solidão completa
de quem passou a noite perguntando por mim,
de quem perdeu de vista o meu destino.
Ajuda-me a cumprir a missão de poeta,
a confundir, numa só e lúcida claridade,
a palavra esquecida no coração do homem.
Vem, serenidade,
e absolve os vencidos,
regulariza o trânsito cardíaco dos sonhos
e dá-lhes nomes novos,
novos ventos, novos portos, novos pulsos.
E recorda comigo o barulho das ondas,
as mentiras da fé, os amigos medrosos,
os assombros daÍndia imaginada,
o espanto aprendiz da nossa fala,
ainda nossa, ainda bela, ainda livre
destes montes altíssimos que tapam
as veias ao Oceano.
Vem, serenidade,
e faz que não fiquemos doentes, só de ver
que a beleza não nasce dia a dia na terra.
E reúne os pedaços dos espelhos partidos,
e não cedas demais ao vislumbre de vermos
a nossa idade exacta
outra vez paralela ao percurso dos pássaros.
E dá asas ao peso
da melancolia,
e põe ordem no caos e carne nos espectros,
e ensina aos suicidas a volúpia do baile,
e enfeitiça os dois corpos quando eles se apertarem,
e não apagues nunca o fogo que os consome.
o impulso que os coloca, nus e iluminados,
no topo das montanhas, no extremo dos mastros
na chaminé do sangue.
Serenidade, assiste
à multiplicação original do Mundo:
Um manto terníssimo de espuma,
um ninho de corais, de limos, de cabelos,
um universo de algas despidas e retrácteis,
um polvo de ternura deliciosa e fresca.
Vem, e compartilha
das mais simples paixões,
do jogo que jogamos sem parceiro,
dos humilhantes nós que a garganta irradia,
da suspeita violenta, do inesperado abrigo.
Vem, com teu frio de esquecimento,
com tua alucinante e alucinada mão,
e põe, no religioso ofício do poema,
a alegria, a fé, os milagres, a luz!
Vem, e defende-me
da traição dos encontros,
do engano na presença de Aquele
cuja palavra é silêncio,
cujo corpo é de ar,
cujo amor é demais
absoluto e eterno
para ser meu, que o amo.
Para sempre irreal,
para sempre obscena,
para sempre inocente,
Serenidade, és minha.
Raul de Carvalho