D. Afonso VI de Portugal (Lisboa, 21 de agosto de 1643 - Sintra, 12 de setembro de 1683) foi o 2.º Rei de Portugal da Dinastia de Bragança.
Nascido apenas como infante de Portugal, D. Afonso
não estava destinado a reinar nem foi preparado para tal, em virtude do
herdeiro da coroa ser o seu irmão mais velho, o brilhante príncipe D. Teodósio de Bragança. A sua formação foi pouco cuidada, à semelhança dos restantes irmãos, o que se confirma quando D. Catarina parte para a Inglaterra, em virtude do seu casamento com o rei Carlos II, quase sem saber falar inglês.
Ao contrário dos seus irmãos, Afonso passou a sua infância e juventude em Lisboa, num ambiente tenso e mergulhado em preocupações políticas, governativas, militares, entre outras.
Com 3 ou 4 anos de idade, atinge-o uma «febre maligna» que lhe afecta o
lado direito do corpo e que se repercutirá na sua vida em variados
aspectos, desde políticos a familiares e sexuais.
Uma doença do sistema nervoso central, pensa-se hoje, talvez uma
meningoencefalite, uma doença de foro nervoso, como propõe Montalvão
Machado.
A morte do irmão, D. Teodósio, sucede-se a 13 de maio de 1653 e, a 17 de novembro do mesmo ano, falece D. Joana. Passa D. Afonso para a ribalta como novo herdeiro do trono de Portugal.
Entre poucos anos antes de falecer, D. João IV
dispensa em benefício do infante D. Pedro, que mais tarde se tornaria
rei de Portugal, um vasto património de senhorios, grande parte deles
usurpados aos nobres contrários à Restauração que haviam partido para
Espanha. Estes senhorios estendiam-se ao longo do território português,
do Norte ao sul do Alentejo, e estão na origem da Casa.
Garantia-se assim, não só «o mantimento dos filhos segundos da
coroa», nas palavras de Veríssimo Serrão, mas também o suporte da
descendência de forma a perpetuar o Sangue Real Português o mais que se
pudesse. Porém, alguns historiadores interpretam esta medida de forma diferente: com a debilidade da Monarquia Portuguesa, que nem sequer era reconhecida internacionalmente, e a insegurança que representava da incapacidade do Herdeiro,
inclusive a gerar descendentes, esta medida conseguia colocar nas mãos
da Família Real um vasto património, que garantiria a sua importância
senhorial.
A Casa do Infantado e a Casa do Cadaval,
com quem a Monarquia mais tarde contraiu alianças, formavam a trindade
da Nobiliarquia Portuguesa e, embora tivessem todas elas ligações à
Coroa, as suas possessões estavam segregadas do património do Estado.
Volvidos três anos, falece D. João IV,
deixando como sucessor Afonso, cuja idade ainda não lhe permitia
governar e com capacidade mental duvidosa para assumir a função. Foi
aclamado e jurado rei a 15 de novembro de 1656.
O boato de que sofria de alguma doença mental levou a que se levantasse
a questão do adiamento da cerimónia. No entanto, a data manteve-se por
entendimento da rainha. O discurso de praxe coube ao doutor António de
Sousa Macedo, jurisconsulto e diplomata,
o qual destacou não a figura de D. Afonso mas a de seu pai, a quem
definiu como «hum sugeito quasi divino». Não deixou de invocar os feitos
dos reis anteriores, provavelmente com o propósito de despertar o brio
do jovem monarca, cuja nação se preparava para o recomeço da ofensiva
espanhola, que já se fazia anunciar, e ao qual incumbia o dever de
juntar todas as forças para, ao fim de dezasseis anos de guerra, não
comprometer a independência face ao país vizinho e todo o processo de
restauração.
Este era o dia em que se iniciava também a regência da sua mãe, D. Luísa de Gusmão.
A regência de D. Luísa centrou-se, inicialmente, na organização do governo de modo a impor-se às facções palacianas em jogo. Nomeia então, D. Francisco de Faro, Conde de Odemira, para aio de D. Afonso e mantém os oficiais da Casa Real que exerciam tais funções no tempo do seu marido. D. Francisco, filho do segundo Conde de Faro, D. Estevão de Faro, e de D. Guiomar de Castro, filha do quarto Barão do Alvito, D. João Lobo da Silveira, e neta, por parte da mãe, do segundo Senhor de Lavre e Estepa, D. João Mascarenhas. Através dos matrimónios das suas filhas, D. Maria e D. Guiomar, traçou relações com o sétimo Conde da Feira e com o primeiro Duque de Cadaval, o célebre D. Nuno Álvares Pereira de Melo, e com o terceiro conde de Vila Nova de Portimão, respectivamente. D. Francisco, como se constata, pertencia a uma das famílias mais poderosas e de maior tradição em Portugal, e com ligações de parentesco directas com outras casas de suma importância, como é o caso da Casa de Cadaval. A Pedro Vieira da Silva e Gaspar Faria Severim, comendador de Moura, coube o Conselho de Estado. Porém a rivalidade entre D. Francisco e o Conde de Cantanhede dificulta a regência da mãe de D. Afonso. Esta vê-se obrigada a nomear a «Junta Nocturna», assim conhecida por ter reuniões à noite. Para além dos dois nobres em disputa, constavam nela outros oficiais de confiança, como o marquês de Nisa, Pedro Fernandes Monteiro, o conde de São Lourenço e Frei Domingos do Rosário, diplomata experiente. Esta Junta teve bastante utilidade e agilidade aos comandos dos negócios públicos.
A regência de D. Luísa centrou-se, inicialmente, na organização do governo de modo a impor-se às facções palacianas em jogo. Nomeia então, D. Francisco de Faro, Conde de Odemira, para aio de D. Afonso e mantém os oficiais da Casa Real que exerciam tais funções no tempo do seu marido. D. Francisco, filho do segundo Conde de Faro, D. Estevão de Faro, e de D. Guiomar de Castro, filha do quarto Barão do Alvito, D. João Lobo da Silveira, e neta, por parte da mãe, do segundo Senhor de Lavre e Estepa, D. João Mascarenhas. Através dos matrimónios das suas filhas, D. Maria e D. Guiomar, traçou relações com o sétimo Conde da Feira e com o primeiro Duque de Cadaval, o célebre D. Nuno Álvares Pereira de Melo, e com o terceiro conde de Vila Nova de Portimão, respectivamente. D. Francisco, como se constata, pertencia a uma das famílias mais poderosas e de maior tradição em Portugal, e com ligações de parentesco directas com outras casas de suma importância, como é o caso da Casa de Cadaval. A Pedro Vieira da Silva e Gaspar Faria Severim, comendador de Moura, coube o Conselho de Estado. Porém a rivalidade entre D. Francisco e o Conde de Cantanhede dificulta a regência da mãe de D. Afonso. Esta vê-se obrigada a nomear a «Junta Nocturna», assim conhecida por ter reuniões à noite. Para além dos dois nobres em disputa, constavam nela outros oficiais de confiança, como o marquês de Nisa, Pedro Fernandes Monteiro, o conde de São Lourenço e Frei Domingos do Rosário, diplomata experiente. Esta Junta teve bastante utilidade e agilidade aos comandos dos negócios públicos.
Mereceu D. Afonso o epíteto de O Vitorioso, por no seu reinado Portugal ter vencido a Espanha em várias batalhas da Guerra da Restauração.
Em dez anos, mais ou menos o tempo em que combateu o país vizinho, diz
António Pereira de Figueiredo, que «alcançou tão grande nomeada, que
ninguém se pode comparar com ele no número de vitórias e na glória que
delas resultou».
Foram cinco as vezes em que os portugueses combateram os castelhanos durante o seu reinado, por ocasião da Guerra da Restauração, sempre em menor número que os adversários. Logo no início do ano de 1657, a regente é informada pelo Conde de Soure que os espanhóis reuniam tropas para invadir Portugal na Primavera. Pouco tempo depois André de Albuquerque, general português, precisa o local de ajuntamento das tropas: Badajoz. Constava ainda que o próprio monarca vizinho viria dirigir um poderoso exército a Mérida. Substituído o conde de Soure no comando das operações militares nacionais no Alentejo, é o conde de São Lourenço que se encarrega de tal tarefa.
Foram cinco as vezes em que os portugueses combateram os castelhanos durante o seu reinado, por ocasião da Guerra da Restauração, sempre em menor número que os adversários. Logo no início do ano de 1657, a regente é informada pelo Conde de Soure que os espanhóis reuniam tropas para invadir Portugal na Primavera. Pouco tempo depois André de Albuquerque, general português, precisa o local de ajuntamento das tropas: Badajoz. Constava ainda que o próprio monarca vizinho viria dirigir um poderoso exército a Mérida. Substituído o conde de Soure no comando das operações militares nacionais no Alentejo, é o conde de São Lourenço que se encarrega de tal tarefa.
Providencia a nomeação de capitães nas praças de Castelo de Vide, Marvão e Vila Viçosa e chama reforços de Trás-os-Montes, das Beiras e do Algarve. A zona do Guadiana é, em princípios do mês de Abril, dominada pelos espanhóis. Não resistiram as praças de Olivença e Mourão. Já em 1658, sabe-se então da pretensão das tropas de Filipe em ocupar Vila Viçosa. Eis que surge um dos grandes generais da Restauração, D. Sancho Manoel, governador da Praça de Elvas. D. Luis de Haro e as suas tropas, de cerca de 20 mil homens e muita artilharia, cercam Elvas,
cerco este que se mantém durante três meses. Dentro das muralhas,
resistiram os portugueses sob diário fogo de artilharia. Trezentos
mortos por dia foi o resultado da peste que também se abateu sobre os militares. Esperavam-se os reforços vindos de todo o país, comandados pelo conde de Cantanhede, António Luís de Menezes, que não tardaram a chegar. A batalha era decisiva, pois estava em causa o controlo de Lisboa. É a 14 de janeiro de 1659
que se dá a batalha nos campos de Elvas, ganha pelos portugueses. D.
Sancho recebe em troca da sua valentia em Elvas, o título de Conde de Vila Flor. Porém, a batalha - viriam os portugueses a perceber mais tarde - não foi definitiva, pois o Tratado dos Pirenéus deixa a Espanha sem outros encargos militares.
Antes, todavia, deflagra uma crise política no sei da corte, que opõe
D. Luísa a D. Afonso, mãe e filho, pelas rédeas do Poder. A rainha
chegou a encarar a hipótese de o infante D. Pedro, seu 3.º filho, vir a
ser jurado herdeiro do trono, para o que recebeu a Casa do Infantado,
ainda no tempo de D. João. Mas tendo falhado o golpe palaciano de 1662,
que visava o desterro de António Conti no Brasil ou, talvez mesmo, a prisão do monarca, abriu-se o processo que levou ao termo da regência em 23 de junho de 1662, à entrega do poder efectivo ao rei.
| (...) em breve, o Rei voltaria a sentir os efeitos de uma ameaça, porventura mais grave. |
— Joaquim Veríssimo Serrão.
|
(...)
Em 1652
falhou o casamento com a filha do príncipe de Parma, o mesmo sucedendo
pouco depois com Mademoiselle de Montpensier, e tampouco resultou o
plano de o casar com a filha do duque de Orléans, origem de uma missão de D. Francisco Manuel de Melo. Afinal o marquês de Sande, D. Francisco de Melo e Torres, assinou em Paris a 24 de fevereiro de 1666
o contrato matrimonial com D. Maria Francisca Isabel de Saboia,
Mademoiselle d'Aumale. O casamento se celebrou por procuração em La Rochelle em 27 de junho e a nova Rainha chegou a Lisboa a 2 de agosto. D. Maria Francisca alimentou esperanças de gravidez, em que pese a corrente favorável ao infante D. Pedro (o duque de Cadaval, o embaixador francês e outros) dizer depois que o casamento não se consumara.
Pelos autos sabe-se que de facto, apenas dois dias após ter conhecido o noivo, a rainha já havia desabafado ao seu confessor, o jesuíta Francisco de Vila: "Meu padre, parece-me que não terá Portugal sucessores deste Rei." Nos meses que se seguiram, ainda em confissão, continuou a queixar-se ao religioso que o Rei era "inábil e impotente", a rainha acabou por recolher-se ao Convento de Nossa Senhora da Esperança
em Lisboa, e a entrar, no dia seguinte, com um pedido de anulação do
matrimónio no Cabido de Lisboa, designando como seu procurador no
processo, o duque de Cadaval. Deixou ao Rei uma carta onde se
justificava: "Apartei-me da companhia de Sua Majestade, que Deus guarde, por não haver tido efeito o matrimónio em que nos concertámos (...)". Desse modo, de 9 de janeiro a 23 de fevereiro de 1668,
nas tardes de segundas, quartas e sábados, 55 testemunhas foram
chamadas ao paço do Arcebispo de Lisboa para depor, em audiências
públicas, sobre a incapacidade sexual do monarca.
O processo foi julgado por três autoridades eclesiásticas e um júri
com quatro desembargadores e quatro cónegos. Entre as primeiras
testemunhas, encontravam-se 14 mulheres com quem o Rei havia tentado
envolver-se. Não compareceram quaisquer testemunhas a favor do Rei.
De acordo com o historiador português Joaquim Veríssimo Serrão "o processo constitui uma página lamentável de nossa história",
mas mesmo que a tese da não consumação possa suscitar reservas, o
processo contém matéria abundante para provar a incapacidade do monarca
em assegurar a sucessão do Reino.
Não resiste à menor crítica, segundo o mesmo historiador, a versão
posta a correr de os dois cunhados terem amores incestuosos. Antes da
anulação ser declarada, já as Cortes de 1668 tinham sentido o grave problema e sugerido ao infante o casamento com a Rainha, "para quietação do Reino e segurança de sua real sucessão". Efetuaram-se diligências em Roma para a necessária dispensa, no impedimento publicae honestatis que pudesse haver entre os nubentes, tendo a bula de autorização chegado a Lisboa a 27 de março.
Instalado na ilha Terceira,
ali permaneceu ao longo de cinco anos. Viveu caprichoso, em turbulência
constante e com grande violência física, nem mesmo poupava os criados.
Em fins de 1673 descobriu-se em Lisboa
uma conspiração para favorecer seu regresso. Diversos conspiradores
foram mesmo enforcados no Rossio. O Rei, mandado vir, chegou a Lisboa em
14 de setembro de 1674,
sendo conduzido ao Palácio de Sintra. Durante nove anos viveu ali,
fechado em seus aposentos, com servidores da inteira confiança do duque
de Cadaval. No início de 1683 foi sangrado, tomou purgas, em 30 de maio teve «agastamentos, com dores», na manhã de 12 de setembro teve um acidente apoplético e ficou sem fala, morrendo logo. Montalvão Machado, em «Causas de Morte dos Reis Portugueses», Lisboa, 1974, diz que o rei morreu de tuberculose pulmonar, como outros filhos de D. João IV e D. Luísa.
Jaz juntamente com seu irmão D. Pedro II e D. Maria Francisca no Panteão dos Braganças em Lisboa.
in Wikipédia
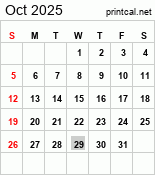


Sem comentários:
Enviar um comentário