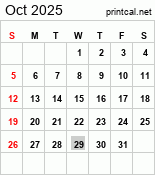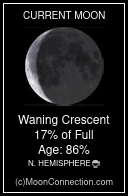(...)
Concluiu o curso de Marinha em 1870, com apenas 20 anos, com as mais
elevadas classificações. Frequentou, em 1871, a Escola Prática de
Artilharia Naval, partindo em setembro desse ano para a Índia, pelo
Canal do Suez, integrado na guarnição da corveta Estefânia, onde é feito guarda-marinha.
A partir de 1872 inicia contactos regulares com
Angola.
A 10 de outubro de 1874, completa os três anos de embarque nas
colónias. Regressando a Portugal, em janeiro de 1875 faz exame para
segundo tenente fora da barra de Lisboa. Em abril de 1875, segue na
corveta
Duque da Terceira para
São Tomé e Príncipe e daqui para os portos da América da Sul. Regressando em abril de 1876, parte no mesmo mês, no
Índia, para Filadélfia, com produtos portugueses para a Exposição Universal daquela cidade.
Após o regresso da grande viagem de exploração, Roberto Ivens, por
motivos de saúde, abandona o mar, passando a prestar colaboração
cartográfica na Sociedade de Geografia de Lisboa e na execução de
trabalhos relacionados com África, sobretudo Angola, no Ministério da
Marinha e Ultramar.
Foi nomeado, por Decreto de 8 de maio de 1890, oficial às ordens da Casa Militar de El-Rei
D. Carlos.
Em 1891 colabora na constituição de um instituto ultramarino do qual
viria a ser vogal da direcção. Por Decreto de 20 de dezembro 1892, foi
colocado no quadro da Comissão de Cartografia, como vogal permanente.
Por Decreto de 27 de abril de 1893, foi transferido para o cargo de
ajudante-de-campo do rei.
Em 1895 foi feito Oficial da
Ordem Militar de Avis
e por Decreto de 17 de outubro nomeado secretário da Comissão de
Cartografia, cargo que manterá até ao ano seguinte. O topo da sua
carreira na Marinha foi alcançado a 7 de dezembro de 1895, com a
promoção a capitão-de-fragata.
Explorações em África
Ao regressar a Lisboa, soube do plano governamental de exploração
científica no interior africano, destinado a explorar os territórios
entre as províncias de Angola e Moçambique e, especialmente, a efectuar
um reconhecimento geográfico das bacias hidrográficas do Zaire e do
Zambeze. Foi, de imediato, oferecer-se para nela tomar parte. Como,
porém, a decisão demorasse, pediu para ir servir na estação naval de
Angola. Aproveitou esta estadia para fazer vários reconhecimentos,
principalmente no rio Zaire, levantando uma planta do rio entre Borud e
Nóqui.
Por Decreto de 11 de maio de 1877 foi nomeado para dirigir a expedição aos territórios compreendidos entre as províncias de
Angola e
Moçambique e estudar as relações entre as bacias hidrográficas do
Zaire e do
Zambeze. Na mesma data foi promovido a primeiro tenente.
De 1877 a 1880, ocupou-se com
Hermenegildo Capelo e, em parte, com
Serpa Pinto, na exploração científica de
Benguela às Terras de Iaca. No regresso, é feito Comendador da
Ordem Militar de Sant'Iago da Espada
e é nomeado a 19 de agosto de 1880 vogal da Comissão Central de
Geografia. Por Decreto de 19 de janeiro de 1882, foram-lhe concedidas
honras de oficial às ordens e a 28 de julho foi nomeado para proceder à
organização da carta geográfica de
Angola.
Em 19 de abril de 1883, é nomeado vogal da comissão encarregada de
elaborar e publicar uma coleção de cartas das possessões ultramarinas
portuguesas. Por portaria de 28 de novembro do mesmo ano foi encarregado
de proceder a reconhecimentos e explorações necessários para se
reunirem os elementos e informações indispensáveis a fim de se
reconstruir a carta geográfica de Angola.
Face às mais que previsíveis decisões da
Conferência de Berlim
era preciso demonstrar a presença portuguesa no interior da África
austral, como forma de sustentar as reivindicações constantes do
mapa cor-de-rosa entretanto produzido. Para realizar tão grande façanha, são nomeados
Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens.
Feitos os preparativos, a grande viagem inicia-se em Porto Pinda, no
sul de Angola, em Março de 1884. Após uma incursão de Roberto Ivens pelo
rio Curoca, a comitiva reúne-se, de novo, desta vez em Moçamedes, para
a partida definitiva, a 29 de abril daquele ano.
Foram 14 meses de inferno no interior africano, durante os quais, a
fome, o frio, a natureza agreste, os animais selvagens, a mosca tsé-tsé,
puseram em permanente risco a vida dos exploradores e comitiva. As
constantes deserções e a doença e morte de carregadores aumentavam o
perigo e a incerteza. Só de uma vez, andaram perdidos 42 dias, por
terrenos pantanosos, sob condições meteorológicas difíceis, sem caminhos
e sem gente por perto. Foram dados como mortos ou perdidos, pois
durante quase um ano não houve notícias deles.
Ao longo de toda a viagem, Roberto Ivens escreve, desenha, faz croquis,
levanta cartas; Hermenegildo Capelo recolhe espécimes de plantas,
rochas e animais.
A 21 de junho 1885, a expedição chega finalmente a
Quelimane, em
Moçambique, cumpridos todos os objetivos definidos pelo governo.
Na viagem foram percorridas 4500 milhas geográficas (mais de 8.300 km),
1.500 das quais por regiões ignotas, tendo-se feito numerosas
determinações geográficas e observações magnéticas e meteorológicas.
Estas expedições, para além de terem permitido fazer várias
determinações geográficas, colheitas de fósseis, minerais e de várias
coleções de história natural, tinham como objetivo essencial afirmar a
presença portuguesa nos territórios explorados e reivindicar os
respetivos direitos de soberania, já que os mesmos se incluíam no
famoso
mapa cor-de-rosa que delimitava as pretensões portuguesas na África meridional.
Honra e glória
Finda a viagem de exploração, Roberto Ivens e
Hermenegildo Capelo
foram recebidos como heróis em Lisboa, a 16 de setembro de 1885. O
próprio rei D. Luís dirigiu-se ao cais para os receber em pessoa e os
condecorar à chegada. O rio Tejo regurgitava de embarcações. Nunca se
havia visto tamanho cortejo fluvial. Acompanhados pelo rei foram
conduzidos ao Arsenal da Marinha para as boas vindas, com Lisboa a
vestir-se das suas melhores galas para os receber. Foram oito dias de
festas constantes, com colchas nas varandas, iluminação, fogos de
artifício, receções, almoços, jantares e discursos sobre a heroica
viagem.
Mais tarde, o Porto não quis ficar atrás, excedendo-se em manifestações
de regozijo e receções. E no estrangeiro, Madrid esmerou-se em
festas, conferências, receções e condecorações; em Paris é-lhes
conferida a Grande Medalha de Honra.
Em Ponta Delgada, por iniciativa de
Ernesto do Canto
sucederam-se as manifestações em honra do herói. O dia 6 de dezembro
de 1885 foi o escolhido para as solenidades. As ruas da cidade
encheram-se de gente de todas as condições sociais. Cada profissão,
cada instituição se incorporou no cortejo cívico com os seus pendões.
Não faltaram as bandas de música e os discursos. Expressamente para
esse dia foi composto o número único do jornal
Ivens e Capelo e foi executado um
Hino a Roberto Ivens, com letra de Manuel José Duarte e música de Quintiliano Furtado.
Roberto Ivens faleceu no
Dafundo,
Oeiras, em 28 de janeiro de 1898, deixando viúva e três filhos que, por decreto de
D. Carlos,
continuariam a receber o subsídio que havia sido atribuído ao pai. O
enterro, a 29 de janeiro, foi uma grande manifestação de pesar nacional.
A urna, de mogno, estava coberta com a bandeira nacional. O segundo
tenente Ivens Ferraz conduzia o bicórnio e a espada do falecido, envolta
em crepe. Sobre a urna, três coroas de flores. No largo do Cemitério
de Carnaxide prestou as honras fúnebres uma força de 160 praças do
corpo de marinheiros, com a respetiva charanga, e junto do jazigo, o
Ministro da Marinha proferiu o elogio fúnebre.
Por todo Portugal existem dezenas de ruas com o nome de Roberto Ivens.
Ponta Delgada prestou-lhe também a devida homenagem, erguendo um busto
inicialmente colocado no Relvão e transferido, por decisão camarária de
1950, para a "Avenida Roberto Ivens", que começou a ser aberta com a
demolição do muro da cerca do Convento da Esperança, em 7 de abril de
1886. Em Ponta Delgada, bem próximo do lugar do seu nascimento,
funciona a Escola Básica Integrada Roberto Ivens.
.jpg)






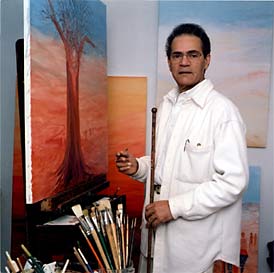
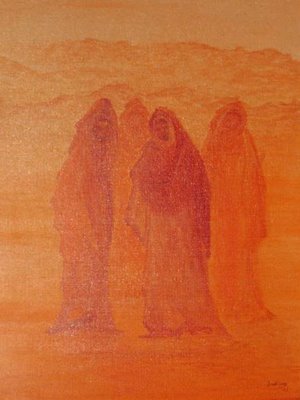




.svg/1280px-Flag_of_Cabinda_(FLEC_propose).svg.png)