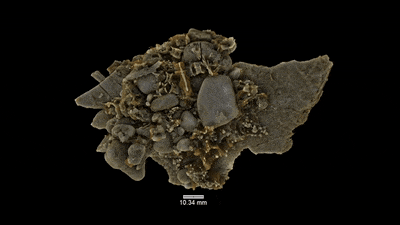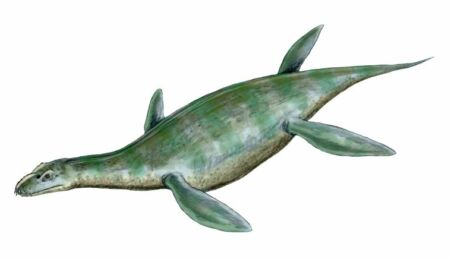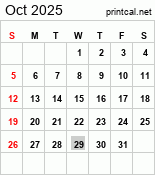Estaremos a encaminhar-nos para uma nova extinção em massa da vida na Terra, provocada pelos seres humanos? Para tentar prever o que poderia acontecer – e talvez evitar o pior – é preciso perceber os ecossistemas em termos de quem come o quê, concluem dois cientistas.
Os especialistas dão-lhe o nome de Grande Morte (
Great Dying, na expressão em inglês). Aconteceu num piscar de olhos geológico, há 252 milhões de anos, quando um vasto evento vulcânico na Sibéria cuspiu gases nocivos e uma quantidade de lava suficiente para formar um novo continente do tamanho da Europa.
O ar tornou-se mais quente e mais seco, os incêndios assolaram a paisagem e o oceano tornou-se tóxico. Em poucas dezenas de milhares de anos, perderam-se 90% das espécies marinhas e três quartos da vida terrestre. “Foi devastador”, diz o paleontólogo Peter Roopnarine. “Nunca a vida na Terra esteve tão perto de desaparecer por completo.”
Mas os cientistas ainda têm muitas perguntas acerca do que aconteceu durante a Grande Morte, formalmente conhecida como a extinção em massa do fim do Pérmico. Quais foram as primeiras espécies a desaparecer? Quando é que os ecossistemas colapsaram totalmente? Quem morreu, quem sobreviveu – e porquê?
Roopnarine pensa ter encontrado uma pista: a ideia de que a estabilidade da teia alimentar – essa complexa hierarquia de quem come quem – seria capaz de proteger as espécies quando um desastre acontece. Pelo menos durante algum tempo.
As questões relativas à sobrevivência das espécies tornaram-se mais prementes nos últimos anos, à medida que um número cada vez maior de cientistas tem vindo a acreditar que o planeta poderia estar a encaminhar-se rapidamente para uma outra extinção em massa – desta vez provocada pelos seres humanos.
Se de facto a vida na Terra for levar um outro golpe trágico, a melhor maneira de se preparar parece consistir em saber como se desenrolaram, no passado, situações semelhantes. Esses eventos de extinção em massa representam, como gosta de frisar Roopnarine, “experiências naturais” que põem à prova a capacidade de sobrevivência das espécies.
O único problema é que, no fim do Pérmico, não havia lá ninguém para tirar apontamentos (os polegares oponíveis demorariam 247 milhões de anos a evoluir, e seria preciso esperar mais uns milhões de anos ainda até alguém inventar o papel).
Foi por isso que Roopnarine, o curador de geologia da Academia das Ciências da Califórnia, e o paleobiólogo Kenneth Angielczyk, curador associado do Museu Field de Chicago, reconstruíram eles próprios, minuciosamente, aquela antiga “experiência” utilizando dados fósseis e modelos de computador. Algo que ninguém tinha feito até aqui. Os seus resultados, publicados na revista
Science, fornecem alguns indícios sobre como a vida consegue gerir crises de proporções monumentais.
A chave da sobrevivência parece residir nas teias alimentares, as complicadas interacções que todos nós já mapeámos com certeza na escola. Elas ilustram como as espécies de um ecossistema arranjam comida – evitando ao mesmo tempo tornar-se comida para outros. Ora, segundo estes autores, uma teia alimentar estável pode proteger uma comunidade das catástrofes ambientais – e até da perda de algumas espécies.
As melhores teias alimentares são como um prédio bem construído: mesmo que um tijolo se desfaça ou seja removido, a estrutura no seu conjunto permanece sólida. E só quando algo de realmente traumático acontece – quando por exemplo, se perdem demasiadas espécies ou uma espécie-chave desaparece – é que a coisa toda se desmorona.
Olhando para fósseis com 250 milhões de anos de idade, provenientes da bacia do Karoo, na África do Sul – uma região conhecida pelas suas quintas de criação de animais de caça e o seu registo fóssil em excelente estado de conservação – Roopnarine e Angielczyk reconstituíram as teias alimentares do Pérmico anteriores à extinção em massa. Para isso, começaram por fazer um trabalho no terreno naquela vasta e quase desértica zona varrida pelos ventos. E depois, sentados em frente a um computador num laboratório norte-americano, tentaram mapear quem comia o quê naquele antigo mundo.
Numa segunda fase, desmontaram essas teias alimentares e reformularam-nas, obtendo novas configurações, para ver como outras teias alimentares possíveis responderiam a um cataclismo. Um pouco à maneira de alguém que, deitando fora as instruções do kit de montagem de uma secretária, por exemplo, constrói no seu lugar um carrinho de apoio de mesa.
Resultado notável: foi a cadeia alimentar do mundo real que demonstrou ser a combinação possível mais resiliente de espécies que viviam naquela altura. Por outras palavras, foi a partir do manual de instruções da natureza que se construíram os sistemas mais estáveis.
“Parecer ter havido uma manutenção permanente da resiliência”, diz Angielczyk. “Mesmo se algum desastre viesse a atingir algumas espécies, isso não iria afectar as outras.”
E mesmo quando confrontados com a fase inicial da extinção em massa do fim do Pérmico, numa altura em que os pequenos animais já estavam a morrer em grandes quantidades, as teias alimentares permaneceram sólidas. Se o vulcanismo que desencadeou a extinção não tivesse durado tanto tempo (cerca de um milhão de anos), alguma vida poderia ter conseguido escapar incólume à catástrofe.
Só que nem as teias alimentares mais estáveis conseguem resistir a um milhão de anos de secas, fogos florestais, de acidificação dos oceanos e de alterações climáticas descontroladas. E a dada altura, as plantas – que eram o alicerce das teias alimentares do Karoo – começaram a desaparecer. Dos 50 géneros (grupos de espécies) que existiam no Karoo antes do evento, apenas cinco emergiram dessa segunda fase de extinções.
Porém, o mundo que essas espécies viram então surgir era muito menos agradável do que o mundo que tinham deixado para trás. Embora novas espécies tivessem depressa emergido para preencher o vácuo deixado pelos seus extintos predecessores, muitas acabariam rapidamente por morrer.
De facto, essas teias alimentares “reconstituídas” eram muito menos estáveis do que as que tinham perdurado durante o período Pérmico – o que mostra que não bastam umas quantas espécies novas para reconstruir um ecossistema. As interacções tinham primeiro de evoluir e de melhorar. E seriam precisos três a cinco milhões de anos para que a vida na Terra conseguisse novamente assentar, dando origem à idade dos dinossauros.
“O que está a acontecer hoje é diferente da extinção em massa de há 250 milhões de anos”, diz Roopnarine. “Em termos de exploração excessiva de recursos, de alterações climáticas, de perda de habitats e de destruição da natureza, estamos a ir muito para além da experiência vivida por qualquer outra espécie.”
Mas o que sabemos, acrescenta, é que a melhor maneira de prever a sobrevivência dos ecossistemas é olhar para a estabilidade da sua teia alimentar: Quem come quem? Quais são as espécies que asseguram a coesão do conjunto? Quais são as espécies que um ecossistema pode perder sem grande impacto, tal como aconteceu com os pequenos vertebrados das teias alimentares do fim do Pérmico?
Proteger um animal de quem todos gostamos – como o panda-gigante ou o bisonte-americano – poderia revelar-se fútil se não protegermos ao mesmo tempo a comunidade à qual pertencem. “Não se trata apenas de preservar as espécies, trata-se de preservar as suas interacções”, diz Roopnarine. “Mas isso significa que temos de perceber essas interacções.”
Actualmente, as teias alimentares modernas ainda são algo misteriosas, acrescenta. E quando as conseguimos perceber, isso acontece muitas vezes depois de alguma coisa ter corrido mal – como no caso dos recifes de corais das Caraíbas. E então, já é tarde demais para fazer seja o que for.
O registo fóssil dos últimos 20.000 a 30.000 anos – que nos parece uma eternidade, mas representa apenas um instante em termos geológicos – está recheado de esqueletos de espécies extintas por predadores humanos ou pela destruição dos habitats: o mamute-lanudo, o dodó, o dugongo-de-steller. Do ponto de vista da paleontologia, “isto tem certamente o aspecto de algo do tipo extinção em massa”, diz Angielczyk.
Se quisermos ter a certeza de que as espécies existentes vão sobreviver às pressões da vida moderna, temos de perceber o que mantém estáveis as comunidades modernas. E entretanto, “temos de ser muito cautelosos”, alerta Angielczyk. Não sabemos o que é que poderia vir a desencadear a próxima Grande Morte.